A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, construída e decidida por Getúlio Vargas apesar de vozes em contrário do próprio Alto Comando Militar brasileiro, foi uma forma de estabelecer ou resgatar a dignidade brasileira.
Naquele momento, fins de 1944, quando a guerra se encaminhava para seu final, interessava aos Estados Unidos obter do Brasil território estratégico para suas bases e matéria prima para sustentar suas tropas. Receber novos contingentes não estava entre as prioridades, mas, exatamente por causa de seus interesses outros, acabaram por aceitar as condições apresentadas pro Vargas.
É a avaliação que faz, em entrevista ao TUTAMÉIA, a professora Teresa Isenburg, da Universidade de Milão. Estudiosa da presença da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra, ela falou sobre o episódio pouco depois do 75º aniversário da Tomada de Monte Castelo, a mais incensada participação da FEB no conflito (confira no vídeo no alta desta página).
Às 17h45 de 21 de fevereiro de 1945, os brasileiros comemoram: “Castelo é nosso!”
Terminava ali uma operação de quase três meses, em que batalhas perdidas tinham deixado mortos e feridos nas forças –brasileiras e de outras nações, sob o comando dos americanos—que enfrentavam o Exército de Hitler nos Apeninos, no norte da Itália. Ao final, porém, o terreno foi conquistado, abrindo caminho mais fácil –se é que há algo fácil em uma guerra—para o Sul.
As façanhas dos brasileiros costumam ser laudadas pela historiografia oficial, mas Teresa Isenburg, autora de “O Brasil na Segunda Guerra Mundial”, aponta que nem tudo foram rosas –na verdade, quase nada— naquela campanha, que envolveu 25 mil brasileiros.
Antes da partida, lembra ela, havia dissensão no país e desconfiança nos Estados Unidos, exemplificada em foto publicada no jornal norte-americano “Times Herald” em 1941. Nela apareciam Eurico Gaspar Dutra, Gois Monteiro e Filinto Muller identificados com a legenda “Adeptos da Alemanha”. Ministro da Guerra, Dutra não escondia suas objeções à aliança com os Estados Unidos, mas teve de submeter a Vargas.

O que não facilitou a vida dos futuros pracinhas, diz a professora de geografia política e econômica, comentando as péssimas condições enfrentadas pelos brasileiros durante a viagem e na chegada à Itália. Lá aportaram no final de um frígido outono, que seria seguido por ainda mais gélido inverno; no entanto, seus uniformes nem sequer eram à prova de encolhimento. E os agasalhos prometidos pelos Aliados –leia-se EUA—tampouco chegaram a tempo e hora devidos.
A chegada à Itália tampouco foi uma descoberta de território sonhado.
“Não era uma guerra normal. Era o fim da guerra em um lugar periférico, sobre o qual ninguém se importa. [é como se pensassem]. Podem destruir tudo, não é a nossa casa. Alemães aterrorizados, com ordem de parar o avanço dos Aliados como fosse possível, senão chegariam de volta a casa e suas mulheres seriam mortas. O clima era esse. A população estava disposta a fazer qualquer coisa. Em suas memórias, que pesquisei, esses brasileiros que chegam àItália falam da Itália como se fosse o Quarto Mundo! Isso é bom que os europeus aprendam. Eles chegam a Nápoles e encontram um monte de ruínas, uma degradação da população feminina… E isso continua por toda a subida [até a região norte da Itália]: a impressão de estar em um lugar pobre, destruído, com pessoas degradadas moralmente. Para eles, parece que chegaram a um fim do mundo econômico, moral e comportamental”.
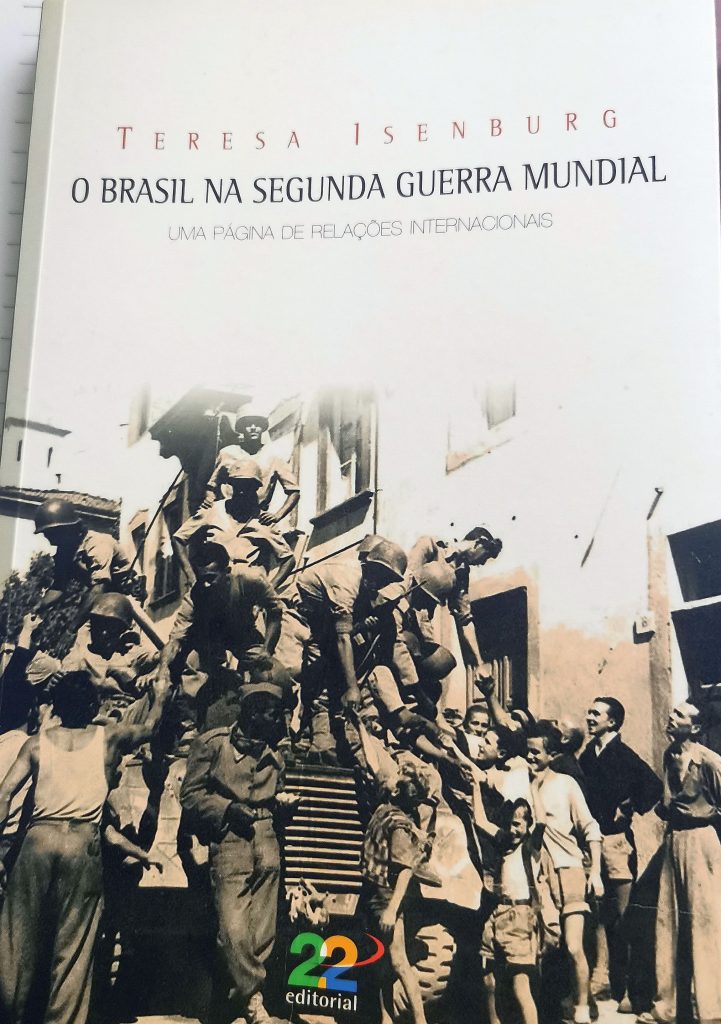 Sofreram também, em alguns momentos, racismo por parte dos locais. “A Itália é de um racismo que só o Brasil supera!”, diz a professora Isenburg, comentando tristes semelhanças entre sua terra natal e o país objeto de seu estudo: os dois são racistas e nenhum fez reforma agrária, o que tende a perpetuar as desigualdades no campo e suas consequências danosas para a sociedade.
Sofreram também, em alguns momentos, racismo por parte dos locais. “A Itália é de um racismo que só o Brasil supera!”, diz a professora Isenburg, comentando tristes semelhanças entre sua terra natal e o país objeto de seu estudo: os dois são racistas e nenhum fez reforma agrária, o que tende a perpetuar as desigualdades no campo e suas consequências danosas para a sociedade.
Mas, ao longo do tempo, relata ela na entrevista, houve maior integração entre os pracinhas da FEB, que deixaram boas memórias em regiões por onde passaram, como demonstra estudo escolar feito em uma das áreas de atuação dos expedicionários, citados por ela no livro e na entrevista.
Ao longo de nossa conversa, por várias vezes a professora Teresa Isenburg usou expressões como “deixados lá” ou “largados” para se referir às tropas da FEB. Perguntamos a ela se os pracinhas estavam abandonados ou foram empregados como bucha de canhão pelo Exército norte-americano, que comandava as tropas aliadas na região.
Ela prefere não usar aquela figura de linguagem, mas afirma: “Os mais poderosos, os ingleses e os norte-americanos, queriam poupar seus cidadãos. É essa a questão. Então mandavam quem? Mandavam o Batalhão Negro, mandavam os holandeses, mandavam aqueles que eram ‘outros’. A sensação que eu tenho é que havia um grande descuido por parte do comando norte-americano [em relação aos brasileiros], e não tinha uma defesa por parte do comando brasileiro… O fato é que todo mundo era carne de canhão, todo mundo…”.

A conquista da vitória em Monte Castelo e a volta ao Brasil como heróis de guerra não valeram reconhecimento nem vida fácil aos pracinhas, destaca Isenburg, para quem a recepção dos expedicionários foi “indigna”:
“O medo domina de modo total a elite brasileira. Eles voltam. Tiveram uma experiência intensa, foram protagonistas, fizeram coisas que nem podemos imaginar, voltam, todos juntos, armados, talvez com alguma ideia na cabeça… O perigo era muito grande. Então foram despachados, voltaram muito rapidamente para seus lugares de origem. Chegaram à noite, apartados da população civil. Tem de esconder essa coisa. Impressionante. Quando voltaram, não houve recepção geral. Tudo foi muito despedaçado, para evitar concentração. Depois, toda a parte física, eles sofreram transtornos graves, doenças, aposentadoria que não chegava, trabalho que não tinha. Isso foi muito duro.”
Assim ela desmascara, desvenda alguns mitos. Mas não deixa de homenagear os pracinhas, os soldados, os homens que fizeram a guerra em um país distante, longe da terra natal, o país da própria escritora que fala ao TUTAMÉIA:
“Como cidadã italiana, tenho uma dívida histórica com o Brasil, que participou dessa imensa tarefa de derrubar o fascismo e o nazismo. Nossos dois países têm muitas coisas parecidas, inclusive a tarefa, para os jovens, de continuar construindo e defendendo, seja aqui, seja na Itália, uma sociedade inclusiva, possivelmente justa. Sobretudo inclusiva.”





Deixar um comentário