“O esporte é um espaço de construção de masculinidade, onde tem o homem mostrando que tem um corpo forte, que tem um corpo esguio, que tem uma potência. Então não é um lugar para a entrada de mulheres. Não foi construído pensando assim. Porque a mulher não pode ser forte, a mulher não tem um corpo forte, muito menos pode chegar a um resultado próximo do resultado apresentado pelos homens. Isso é impensável.”
Essas é uma das explicações para o preconceito contra a mulher no mundo do esporte, para as restrições e controles que o esporte feminino sofre, segundo afirma Waleska Vigo Francisco, doutoranda da USP e integrante do grupo de Estudos Olímpicos que desenvolve pesquisas na área de gênero, sexualidade e esportes. A entyrevista integra uma série sobre esporte e esportistas que TUTAMÉIA vem produzindo como “aquecimento” para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
O que suas pesquisas e estudos de Waleska Francisco até agora apontam, contou ela em entrevista ao TUTAMÉIA (assista no vídeo acima), é uma história de tentativas de controle, de enquadramento da mulher em caixinhas de regras para que as estruturas dominantes em cada época não sejam mexidas, alteradas. É uma história também de reação, resistência e conquistas por parte das mulheres.
Com seu olhar de pesquisadora voltado para o mundo dos Jogos Olímpicos, Waleska Francisco lembra que, na primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, em 1896, na Grécia, as mulheres foram sumariamente proibidas de participar.
“O que eles estavam dizendo era: as mulheres não são capazes de praticar esporte ou esporte não é coisa para mulher, não era coisa para o perfil que a sociedade esperava, que os dirigentes olímpicos esperavam para a mulher. Eles dizem: isso não é para vocês.”
A resposta das mulheres foi dizer: “Não, isso é para nós!”.
E dito e feito. Na edição seguinte, em Paris, em 1900, já existem modalidade femininas nos Jogos Olímpicos, como nos conta a doutoranda:
“Nessa época, há outras lutas das mulheres. Há o movimento sufragista na França, as mulheres dizendo que querem mais direitos, que querem direito ao volto, a melhores condições de trabalho. E há então uma pressão também para que as mulheres possam entrar, fazer parte desses Jogos.”
Não foi um pé na porta. A cartolagem masculina cede tentando não ceder: “Eles então dizem que as mulheres podem participar, mas apenas em duas modalidades, que são o golfe e o tênis, porque se entende que são modalidades que trazem uma certa leveza e graciosidade. Isso era o perfil esperado de um corpo de uma mulher. Tudo bem entrar no esporte, mas nessa área, em que tenha graciosidade, em que ela use sua flexibilidade. A mulher é sempre apresentada no esporte como melhor no quesito flexibilidade. Força, agilidade, explosão, todas essas questões ficam para os homens.”

Ao longo das décadas seguintes e até os nossos dias, o movimento das mulheres vai obtendo mais conquistas, ampliando seus espaços no olimpismo. Mas sempre dentro de alguma “caixinha” predefinida do que ode e o que não pode.
Só em 1984, por exemplo, abriu-se a maratona para as mulheres nos Jogos Olímpicos, sempre com a desculpa de que aquele tipo de atividade seria prejudicial para os corpos femininos –corpos que, diga-se de passagem, estiveram na maratona desde que ela foi criada: apesar da proibição e da falta de registro oficial nos Jogos, houve pelo menos uma mulher nas provas de teste em 1896 e na própria maratona da primeira Olimpíada da Era Moderna.
Em outras modalidades, levou ainda mais tempo: só neste século 21 foram criadas as modalidades femininas no boxe e no rúgbi nos Jogos Olímpicos. “Em cada edição, as mulheres vão chegando com maior força. É um lugar onde não só se entra. É um lugar em que tem de resistir para poder permanecer”, diz Waleska Francisco.
A chegada de atletas homossexuais e de homens e mulheres trans chacoalha ainda mais as regras e as tentativas de contenção dos corpos. Na entrevista, perguntamos à pesquisadora por que há o que parece ser um medo da presença de atletas não enquadrados nos gêneros em que os corpos são ainda hoje enquadrados.
“Medo é a palavra certa”, afirma a pesquisadora, perguntando: “Quem tem medo do feminismo? Quem tem medo das atletas trans? E por existe esse medo?”.
Ela destaca que o medo não é só das atletas trans, mas das mulheres que não se enquadram no perfil de mulher colocado pela sociedade e pelo próprio esporte: “A mulher precisa ser colocada dentro de certos limites”.
Mais: o próprio gênero precisa ser enquadrado. “Nós somos ensinados a ter gênero, antes mesmo do nascimento. No exame de imagem, quando o médico diz que é menino ou menina. Ali já começa uma determinação do que vai ser esse corpo, qual papel social –que vem mudando ao longo dos anos—será esperado dele ou dela. Aí já está gerada essa expectativa, do que esse corpo pode ou não fazer, como deve ser sua performance. Entendemos o mundo dividido em dois, homens e mulheres. Por isso que esse corpo transexual, esse corpo de um atleta intersexo provoca esse medo, esse pânico. Se nós somos ensinadas e ensinados desde criança a seguir um modelo, é como se nós estivéssemos falhando. Gera as perguntas: será que sou mulher suficiente? Será que sou homem o suficiente? Será que estou seguindo o modelo? Será que não falhei?”
Ao longo da entrevista, Waleska Francisco contou várias histórias de homens e mulheres trans que enfrentaram e vêm enfrentando as barreiras impostas pela sociedade e pelo mundo olímpico.
Disse que “a discussão sobre a inclusão de pessoas trans no esporte tem feições teatrais e jurídicas, sendo caracterizada pela exposição pública de atletas, explanação e veredito final sobre quem pode e quem não pode participar”. Há um esquecimento deliberado, segundo ela, dos homens trans. Argumenta: “Os documentos do Comitê Olímpico Internacional (COI) deixam isso bem claro quando especificam detalhadamente os critérios às mulheres trans e, pelo contrário, não citam qualquer regra a participação de homens trans. Isso acontece porque o homem trans é compreendido pelas instituições do esporte como uma “ex-mulher”, e tornou-se natural enxergar a mulher como um corpo delimitado, de performances, resultados e capacidades físicas secundárias, salvo no quesito flexibilidade. Ou seja, o homem trans, a princípio, não abalaria a hegemonia masculina, afinal, seu “ex-corpo feminino” não é de nada, oiá! Será mesmo?”
Um dos exemplos históricos pesquisados por ela demonstra o contrário, diz Waleska, contando a história do atleta Erik Schinegger.
“Ao nascer, Erik foi designado menina pela equipe médica e registrado como Erika, permanecendo assim até os 18 anos, em 1966, quando venceu o Campeonato Mundial Feminino de Esqui na categoria downhill. À época, o Comitê Olímpico Internacional (COI) implantava os testes cromossômicos para verificação de gênero. Classificado como intersexo, Erik foi impedido de participar das competições na categoria feminina e optou pelo processo cirúrgico de redesignação sexual para continuar praticando esqui. Em 1968, o atleta retomou as atividades esportivas na categoria masculina e venceu a Copa Europeia de Esqui Alpino. Com esse resultado, Erik foi expulso da equipe masculina porque seus resultados estavam causando polêmica. O problema: além de campeão europeu, Erik havia vencido Franz Klammer, o campeão olímpico. Em outras palavras, Erik tinha chances reais de se tornar não só o primeiro homem trans dos Jogos Olímpicos de Inverno como poderia ser medalhista de ouro.”
Waleska trouxe ainda, durante a entrevista, relatos da trajetória de atletas como a sul-africana Caster Semenya e a espanhola Maria José Martinez-Patiño.
Ela afirma: “Quem transgrido é muito corajoso, pois há uma vigilância de gênero o tempo inteiro. O gênero é uma questão tão importante, está em toda a sociedade. Está no esporte, está na medicina, o gênero está enraizado em toda a sociedade.”
Isso não significa que não haja e não possa haver mudança. Um progresso, na opinião da doutorada, é a inclusão de modalidades mistas nos Jogos Olímpicos deste ano, em algumas provas de atletismo e de natação.
“Por que esses corpos não podem competir juntos?”, provoca ela, dizendo que talvez esteja aí, novamente, o medo de que a mulher possa vir a ter uma performance melhor. “Imagine um jogo de futebol misto, em que a Marta venha e dê um chapéu no Neymar!!!”

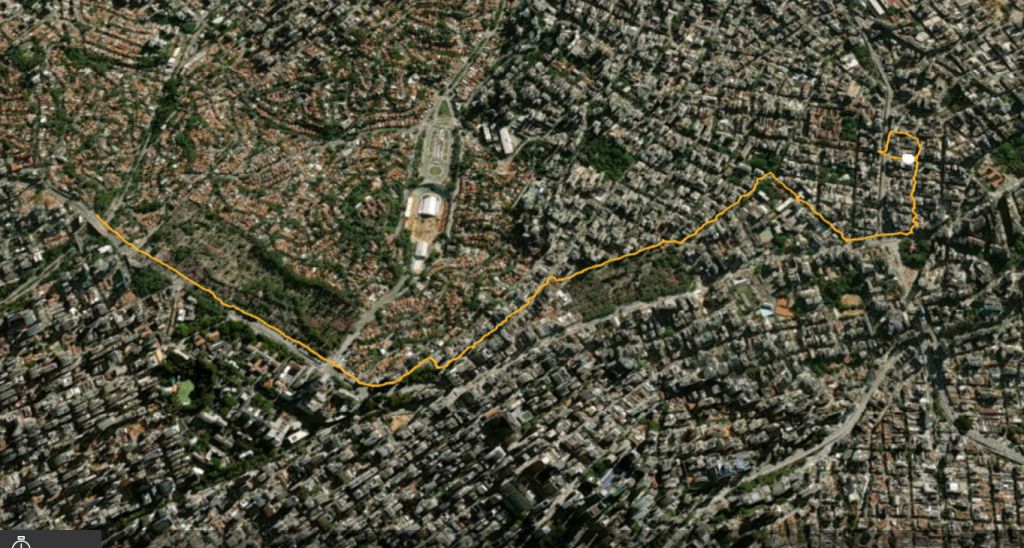



Deixar um comentário