Este é o segundo capítulo de meu livro MARATONANDO, editado pela Record e lançado em 2006. Com o subtítulo “Desafios e descobertas nos cinco continentes”, conta histórias acompanhando a trajetória de um sujeito completamente sedentário que se transforma em corredor capaz de enfrentar provas com dezenas de quilômetros.
CALIFÓRNIA DOURADA
Big Sur International Marathon
29 de abril de 2001
Montanhas, montanhas, montanhas e mais montanhas. De um lado, o mar batendo nas rochas, espumando vigoroso, rugindo, mas também quebrando calmo em pequenas praias solitárias, inacessíveis. De outro, mato, árvores, campos. No caminho, longas, íngremes ladeiras. E vento, vento, muito vento. É a Big Sur International Marathon, aclamada a mais bela maratona do mundo, temida como uma das mais difíceis.
Foram esses predicados que me seduziram quando, no ano anterior, eu enfrentava os trabalhos de recuperação da fratura por estresse e sonhava com uma compensação gloriosa. Em setembro de 2000, ainda machucado, fiz minha inscrição pela internet. Foi providencial, pois em novembro estavam esgotadas as quatro mil vagas para a prova, que aconteceria só no em abril do ano seguinte. No total, mais de dez mil corredores participaram do evento, que incluiu também prova de revezamento, caminhada de 21 quilômetros e corrida de cinco quilômetros.
É uma festa que toma conta de Monterey, cidade histórica e turística a 208 quilômetros ao sul de San Francisco, na Califórnia. Durante exatas cinco horas e meia, a Highway 1, estrada que serpenteia pelas montanhas, margeando o oceano Pacífico, fica fechada entre a reserva florestal de Big Sur e a belíssima Carmel, pequena cidade praiana refúgio de ricos e muito ricos.
Foi a Eleonora quem pela primeira vez me falou de Carmel. Ela ouvira o nome no intervalo de uma reunião de negócios no Uruguai, com um empresário argentino que representava uma empresa norte-americana. O sujeito voava o mundo vendendo máquinas e sistemas para jornais e aproveitava a milhagem assim conseguida para fazer viagens particulares, por belas praias. Para ele, o recanto mais bacana que visitara era exatamente o ponto final de minha corrida.
Carmel impressiona mais pela organização e pela pujança do que exatamente pela beleza, ainda mais para quem circula pelas praias de Florianópolis e do Nordeste brasileiro. No alto da avenida principal -e, pelo que vimos, única-, há lojas sofisticadas e restaurantes. À medida que a avenida se aproxima do mar, o comércio vai rareando e aumenta o número de placas indicando estacionamento proibido. É tudo limpo de brilhar, os jardins nas ruas são meticulosamente desenhados.
Há vários quarteirões de paz entre a praia e o burburinho comercial. Ruas com mansões de veraneios, árvores e beleza simples, arrumada. Até demais, talvez. Foi lá que vi pela primeira vez uma estranha viatura do Departamento de Trânsito circulando com uma espécie de régua gigante que sai da lateral do veículo e confere se os carros estacionados estão parados nos limites regulamentados e devidamente pintados no asfalto.
Tudo isso vi meio de passagem, com as idéias enevoadas pela nervosismo que antecede a prova, pensando no ritmo de corrida, antecipando dores, calculando dificuldades. A cada instante, voltava a imaginar o percurso, conferia o mapa gigante que tinha grudado na porta do quarto e que estava também impresso na minha mente.
O início da Big Sur International Marathon é lá no alto das montanhas.
Somente os corredores podíamos subir até o ponto da largada e exclusivamente nos ônibus fornecidos pela organização da prova. As partidas, de dois pontos em Monterey e outros dois em Carmel, começavam às 3h45. O último ônibus largaria às 4h45.
Cada corredor tinha um bilhete. A cor do passe indicava o horário e o ponto de saída. Pelas regras da competição, a Eleonora estava impedida de acompanhar a largada. Procurando dar um jeito, desde fevereiro fiquei trocando e-mails com o diretor da prova, o tenente-coronel reformado Wally Kastner.
Tive não uma promessa, mas um talvez. Na hora do vamos ver, quem disse que eu conseguia falar com o sujeito? A estrutura da prova era impressionante, com dezenas de pessoas trabalhando como voluntários e ajudando nas mesas de entrega de números, venda de produtos e resolução de problemas, no Centro de Convenções de Monterey.
Um salão enorme era ocupado pelas mesas e cabines para atendimento dos corredores, outro abrigava uma feira de produtos esportivos, e palestras gratuitas para os corredores eram realizadas em diversos auditórios. Levei quase uma hora até conseguir convencer uma senhora de que, sim, eu conhecia Kastner (pelo menos via internet), e sim, ele dissera que este brasileiro deveria procurá-lo.
Foi melhor que a encomenda. Uma vez encontrado o diretor da prova, em poucos minutos recebemos cartões especiais e acabamos colocados no ônibus dos atletas de elite (um mexicano, um casal de russos e meia dúzia de americanos), que sairia às 5h15. Ganhei uma hora a mais de sono e o privilégio de um pit stop em banheiros distantes da multidão.
Mesmo assim, no dia anterior à largada, Eleonora e eu repetimos várias vezes o trajeto do centro de Convenções até o hotel em que estávamos, calculando as passadas e cronometrando o tempo de caminhada.
Chegou, enfim, a madrugada de 29 de abril. O pessoal do motel em que estávamos instalados, num quarto com uma enorme cama e lareira movida a gás, acordou ainda mais cedo para preparar o café dos atletas. Não tinha muito o que inventar: banana, pão, bolo e chá, queijo branco e mel. Mesmo com todos os cuidados com a alimentação, eu passara a noite indo e voltando ao banheiro, suando de tensão e antecipação.
Caminhamos acelerados até o Centro de Convenções e ficamos acompanhando a multidão partir, numa bagunça militarmente organizada. Deu até para relaxar um pouco, pois o nosso carro, o da elite, seria o último a largar.
Era um desses ônibus escolares, amarelões, com o motor na frente, como se vêem nos filmes americanos. O motor roncava e bufava subindo os morros que iríamos descer, deslizava silencioso nas perambeiras que iríamos conquistar. Com o clarear da manhã, aos poucos começou a ser possível ver o caminho. Um americano ao meu lado me apresentou ao Hurricane Point (Ponto do Furacão), o pico da corrida, a quase 180 metros acima do nível do mar: “É lááááá que nós vamos subir”, disse ele.
Bueno, a gente ia ter de subir mesmo. Mas isso seria mais tarde. Agora, por volta das 6h30, finalmente chegávamos ao ponto da largada, no Pfeiffer State Park.
A organização e os serviços estavam impecáveis, como tudo ao longo de todo o tempo. Bancas com bananas em pedaços, laranjas cortadas, isotônico e água. Montes de banheiros, com filas enfrentáveis. Música. E um locutor anunciando quanto tempo faltava para o início da prova.
Peguei uma garrafa de água, tomei uns dois, três goles, fui para a fila dos banheiros para dar a última antes de começar a correr. Quando faltavam 15 minutos, eu ainda tinha uns cinco pela frente. Resolvi tirar a roupa ali mesmo.
É que, por causa do frio de rachar, todos os corredores estávamos agasalhados. A ordem era colocar a roupa em um saco plástico, marcado com o número do atleta, e deixar nos ônibus, que iriam esperar no final.
Deixei com a Eleonora meu abrigo, as luvas e o gorro. Estava frio, na casa dos sete, oito graus, mas o sol brilhava, achei que não iria precisar de mais agasalho. Às cinco para as sete, entrei no cercado, fiquei na área dos que iriam correr entre 3h45 e 4h30 (mais para 4h30, previa).
Houve uma revoada de pombos brancos, foi cantado o hino norte-americano. O locutor anunciou que faltava um minuto, depois 30 segundos, dez segundos, largada!
Cheguei a ficar com os olhos molhados de emoção, mas correr, que é bom, nada. Caminhando no meio da multidão, que, aos poucos, se movimentava, levei mais de um minuto até passar pela faixa de largada e só então comecei a dar passadas que imitavam alguém tentando trotar.
Alcancei o marco da primeira milha em quase 11 minutos, passei a segunda com mais de 21, a terceira completei com meia hora de prova. Tudo ainda no meio da massa, quase sem correr, ainda sentindo muito frio, sem suar, sabendo que estava na parte mais fácil da prova, uma descida de 50 metros ao longo de cinco milhas, e que não podia me entusiasmar.
Mas o fato é que estava aumentando o ritmo. A cada milha, indicada por marcos na forma de violoncelos gigantes de madeira, um voluntário gritava o tempo transcorrido e outro informava a média por milha, avisando o tempo total previsto para aquela média. Lá pela quarta, a minha já estava em menos de dez minutos (6min15/km).
Sensacional. Não precisava olhar o relógio nem fazer cálculos para conversão de milhas em quilômetros (cada uma vale aproximadamente 1,6 quilômetro). Podia, assim, prestar mais atenção ao freqüencímetro, que monitorava as batidas de meu coração e indicava um ritmo de treino leve. Tudo bem que não era para sair como louco, mas preguiça também não dava.
Aumentei o ritmo para 150 batimentos por minuto. No planejamento da prova, acreditara que daria para correr a maior parte do tempo a 160 bpm, mas achei melhor ser prudente. O ritmo ideal de prova é calculado com base da freqüência cardíaca máxima, que varia conforme a história da pessoa, a idade, a forma física e mais uns tantos elementos -grosseiramente, porém, a fórmula 220 menos idade (no caso, 220-43) dá a freqüência máxima prevista.
Naquela altura, mesmo fazendo pouco esforço, conseguia manter um ritmo que levava minha média horária para a direção desejada. Eu já estava num pelotão intermediário. Mais solto, passadas mais largas, resolvi aproveitar mais o caminho, curtir a paisagem. Afinal, não era aquela a mais linda maratona do mundo?
Quando, depois de uma subida em curva para a esquerda, vi o mar pela primeira vez, batendo nas rochas, lá em baixo, comecei a acreditar que talvez fosse mesmo. Também era das mais animadas: a cada milha, os corredores éramos recepcionados por uma banda, um grupo musical ou mesmo só um fulano fazendo som. E a cada duas milhas e pouco havia uma estação de abastecimento.
Haja abastecimento! Começa com água, depois isotônico, a seguir frutas e por fim esponja molhada para jogar água na cabeça e nas costas. Montes de latas de lixo para garantir que o mínimo possível vá parar no chão -e os copos de papel jogados são logo recolhidos. Alguns metros à frente, uma bateria de banheiros -razoavelmente limpos, plenamente utilizáveis sem risco de intoxicação, a julgar pelo único em que eu entrei, na altura da vigésima milha.
Foi nesse passinho, já um pouco mais rápido, que cheguei à quinta milha (km 8) e comecei a enfrentar a primeira subida. Entusiasmado com meu bem-estar, até me esqueci de tomar o gel energético programado para aquela altura.
A única incomodação era o vento frio. Naquela altura, eu ainda bem forte, descansado, não sentia muito. Sabia que estava sofrendo um pouco, mas nada para dar muita bola. Como se fosse um mosquito zunindo na hora de dormir.
Começou a primeira subida mais forte. A paisagem ficou mais selvagem, as encostas da montanha já passavam a ser escarpas, as ondas espumavam nas rochas.
Aproveitei para tirar fotos com uma câmera levíssima, especial para ser carregada no cós do calção ou no cinto da pochete, que tinha comprado na exposição que fez parte do evento (funcionou sexta e sábado e foi um verdadeiro parque de diversões para corredores, com bancas das melhores marcas de tênis, roupas, relógios -e muita comida de graça, especialmente barras energéticas e sucos especiais, tudo ótimo, com destaque para os maravilhosos achocolatados).
Foi por aí, numa subida, que tive o primeiro diálogo com outro corredor. Pedi a uma americana que fizesse uma foto minha, e a gringa passou batida, dizendo que não tinha tempo. Engoli, esperei que ela se mandasse e fui atrás, só para ter o gostinho de passar e deixar que ela tivesse uma magnífica visão de meus calcanhares. Pense bem: que tanta pressa pode ter alguém que está fazendo mais de seis minutos por quilômetro lá pelo km 12?
Em compensação, ela ficou vendo por algum tempo a bela sola de meus tênis. Deveria ser uma visão magnífica, pois, como se sabe, os tênis são objeto de desejo de todo corredor e seu equipamento mais importante. Para mim, então, que tenho pé chato, funcionavam também como auxílio para corrigir a passada.
É que, como foi descobrir só depois de vários meses de treino, há sapatos especiais para os principais tipos de pisada. Em geral, quando corre, a pessoa bate primeiro no chão com a parte externa do calcanhar e então faz um leve movimento para dentro e embica o pé reto, já dobrando a parte da frente para impulsionar o próximo passo.
A maioria das pessoas faz isso com precisão e elegância. Alguns, porém, que têm o arco do pé mais alto, batem firme e forte no chão com a parte central ou interna do calcanhar: são os supinadores. E um grande número faz a entrada normal e então gira o pé com mais amplitude, amortecendo o choque, mas também correndo risco de torção. A isso se chama pronação excessiva, característica dos que têm pé chato, como eu. Os tênis para nós são sempre os mais largos, mais pesados, mais feios e mais caros, cheio de tecnologia para manter a passada no prumo.
Tudo isso para contar a visão que dei à gringa. Mas foi por pouco tempo, pois ela não agüentou ficar nem no ritmozinho que eu seguia. Continuei na minha, sabia que ainda haveria muita beleza para curtir. Depois de uma longa curva, deu para ver o que vinha pela frente: lá longe estava o caminho que levaria ao Hurricane Point. Antes, tinha de subir mais um pouco e depois rolar lomba abaixo, dando uma boa acelerada e cuidando para não perder o controle. Abrindo a passada, mas mantendo o fôlego para trocar com os parceiros comentários, exclamações sobre a subida que estava para vir.
Cheguei ao ponto mais baixo da prova, a cerca de 20 metros acima do nível do mar, e comecei a subir. Tinha tomado o gel que levava na pochete lá pelo km 13, depois de recusar o gel distribuído a cada duas estações. Passei a décima milha (km 16) com 1h32, já no passo que seguiria mantendo quase ao longo de toda a prova.
Os americanos podem falar as barbaridades que quiserem daquele morro -e é um senhor morro, equivale à soma empilhada de umas três Brigadeiros, a temível subida da famosa corrida paulistana de São Silvestre-, mas ele não mata ninguém, ou pelo menos ninguém que tenha treinado com afinco e se jogue para manter o ritmo.
Foi o que fiz, ainda parando para mais umas fotos. Quando vi, já chegava ao no tal Hurricane Point. Dei um berrão, daqueles bons, em português, gritando: “Vambora pessoal, que agora é só lomba abaixo!”.
Os em volta riram, mesmo sem entender nada, e eu segui minha recomendação. Passei a meia-maratona com 2h02, feliz, forte, relaxado, e aí comecei a acreditar, achando que talvez desse para pensar em tempo.
De certa forma, sabia que eu mesmo estava me enrolando quando gritei que agora era só lomba abaixo. Basta lembrar da altimetria, o mapa das variações do terreno da prova, para saber isso. Tinha consciência de que estava me enganando, lembrava até de comentários lidos na internet, em que corredores reclamavam mais das ondulações da milhas finais do que do Hurricane Point.
Mas resolvi seguir no me engana que eu gosto e fiz as milhas mais legais da prova. Lá pela 16, com quase dois terços do percurso já superado, finalmente cheguei a um ritmo que previa conclusão em quatro horas. Se conseguisse, seria muito, mais muito melhor do que imaginara realizar.
Foi quando pela terceira vez bati um papo na estrada. O corredor viu os escritos em português na minha camiseta (tinha meu nome, o da minha mulher, das minhas filhas, dos meus pais e meus irmãos, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, de todos os meus cachorros, vivos e mortos, e de minhas músicas especiais do coração) e puxou conversa.
Haja coincidência: o americano tem uma amiga que mora em Porto Alegre. É uma arquiteta que ele conheceu em Madri. Até me disse o nome dela e de seu escritório, mas me esqueci no mesmo instante.
Rodamos junto um pouco, um forçando o ritmo do outro, mas na estação de abastecimento depois da milha 17 eu fiquei para trás, bebendo minha água calmamente, caminhando, como tinha feito em todas as estações e como seguiria fazendo até o fim (caminhando porque era mais prático, para não derramar água, e não por causa dos ensinamento de Jeff Galloway, -ex-atleta olímpico, escritor e um dos palestrantes nas sessões do dia anterior, defensor de caminhadas de um minuto a cada quatro corridos ou o ritmo que cada um achar melhor para si).
Subi até a 18 e aí dei uma fraquejada. O caminho era mais ou menos plano até a milha 20 (32 km), com algumas inclinações, uma ou outra lombada. Mas vinha o vento, e aí eu senti mesmo. Numa curva, empurrava pelo lado. Quando soprava de frente, parecia me segurar, jogar para trás. Eu não tinha como fugir. Correndo em campo aberto, sonhava com a próxima curva, curtia a chegada de um paredão ao lado, para pelo menos o vento não encanar.
As costas estavam doloridas, o pescoço começou a endurecer, anunciando um torcicolo daqueles. A cada subida, as coxas pareciam empedrar, as panturrilhas teimavam em não querer obedecer, as passadas ficavam mais curtas. Na milha 21, a previsão de chegada estava em 4h04 e subindo.
Será que eu estava, afinal, batendo na parede? É como os corredores chamam o momento da prova em que, sem aviso, as forças se vão embora, a dor na musculatura toma conta do pensamento, os pés inchados formigam, a vontade de concluir fraqueja diante da sedução de descansar.
É o que o corpo é movido pela comida transformada por nossas usinas internas e armazenadas em forma de glicogênio. A gente vai correndo e usando as reservas armazenadas, que uma hora acabam. Quando isso acontece, o corpo busca outras fontes de energia e se alimenta da proteína dos músculos, uma espécie de autofagia química que deixa o corredor cada vez mais fraco. É por isso que a gente precisa se reabastecer -eu vinha consumindo mais ou menos a cada hora um saquinho de carboidrato em gel, uma meleca adocicada que supostamente repõe as energias gastas no exercício.
Não estava funcionando. Com beleza e tudo, paisagem e o escambau, meu ânimo balançou. Bateu um desalento. Se continuasse assim, dali a pouco estaria caminhando, mais um pouco iria parar, sei lá. Achava que não ia dar, mas percebi que, se largasse de mão, não daria mesmo. A ordem tinha de ser outra: elegância, peito aberto, pescoço relaxado, braços se mexendo, calcanhares no alto, tornando a passada mais ampla e veloz.
Pau! Talvez não conseguisse quebrar as 4h, mas também estava decidido a não fazer menos do que já tinha conquistado.
A essa altura já estávamos chegando a uma parte menos selvagem, habitada de longe em longe. Mais gente surgia de vez em quando na estrada, aplaudindo, incentivando. Alguns gritavam o meu nome, escrito no peito. “Way to go, Rodolfo!” “Good job!”
Não tão bom, porque a previsão continuava 4h04 na milha 23, mesmo com o freqüencímetro nos 160 (é verdade que também caía até os 120, 136…). A temperatura, lá pelas 10h30, estava mais alta, o sol brilhando forte, mas nada que se possa chamar de calor. Aliás, com o maldito vento, eu até torcia pelos trechos onde pudesse pegar sol.
Revisava na minha cabeça o que ainda viria pela frente, lembrando o mapa da altimetria. Eu estava numa descida que seguia até lá pela milha 24,5. Depois, se a memória não me enganava, viria uma lomba mais íngreme, seguida por duas pequenas quedas e então era a corrida para o abraço.
Nada disso. As descidas eram mais curtas, as lombas mais inclinadas, os pequenos trechos planos mais chatos. Só o que eu sabia é que não ia deixar o freqüencímetro baixar dos 150 bpm e que ia ter força para chegar bem.
Sei lá a quanto foram os batimentos. Quando eu vi, estava na milha 25, era só mais uma, no meu relógio faltavam oito minutos para as quatro horas, eu já tinha feito, em treino, 1.500 metros em 7min20, quem sabe desse para quebrar, fechar em sub-4.
Dar, não ia, eu sabia, tinha a milha mais umas tantas jardas, os tais 195 metros que matam, mas talvez…
Pau! Chinelo neles. Levanta os calcanhares, olha para a frente, vai buscar.
Tem mais um verdinho para derrubar, como eu apelidara os corredores do revezamento, que usavam número verde às costas (os maratonistas tínhamos número vermelho no peito). Como cada um deles corria apenas um pedaço do percurso, passavam voando por nós, não fazendo mais que a obrigação. Mas muitos fraquejavam no entusiasmo, e minha diversão era ultrapassá-los.
Uma baixinha que eu tinha deixado para trás voltou a me superar, um outro sujeito me passou também faltando 500 metros, lá na frente eu via uma garota de camiseta laranja em que estava escrito “26.2 Dream a little, sweat a little” (Sonhe um pouco, sue um pouco; 26.2 é a distância da maratona, em milhas). Ela havia me passado algumas vezes desde a milha 16, eu tinha dado o troco outras tantas.
Fui! Sei lá se alguma coisa estava doendo, era a hora de abrir a passada, ouvir o rugir do pessoal que estava na chegada. Ainda pensei em ver a Eleonora, em gritar Brasil!, mas, que nada, corri.
Passei a baixinha, a outra, o cara de calção azul, estava entrando no funil, um fiscal encaminhou a garota de camisa laranja para um lado, fui para o outro, cheguei!
4h02min11 marcou o relógio oficial. 4h01min16 foi o meu tempo para as 26,2 milhas. A segunda metade foi melhor que a primeira, o joelho não doeu, as canelas não fraquejaram, o pé não torceu. Eu estava inteiro, estava sobrando.
Recebi a medalha, um medalhão de argila com inscrições em azul e uma gravura da tal ponte Bixby, o cartão-postal de Big Sur, onde um músico manda ver num piano eletrônico superpoderoso, que lança sons pelo mar e montanhas. Logo depois, ganhei uma espécie de cobertor de um plástico especial. Entrei numa fila de nada para subir num pódio e fazer a foto oficial e fui para a barraca da comida.
Era um barracaço! Montes de comida! Logo na entrada, cada um pegava uma caixinha de papelão e seguia para atacar uma caixa de laranjas cortadas, bananas gigantescas, morangos vermelhíssimos, suculentos, barras de cereais, copinhos de salada de frutas e compotas, pão (os tais bagels), passas e suco de fruta. Quando vi que não precisava ser um por cabeça, voltei, peguei outra caixa e fui enchendo com as barras, que são ótimas, as passas, que a Eleonora gosta, e o suco, que eu adorei de início, mas era doce demais.
Saindo da barraca, continuava no cercado de atendimento aos corredores. Um imenso trailer servia cerveja às pamparras. Abri mão, imaginando quem seria o doido que recomendava álcool àquela altura, e logo ouvi meu nome.
Gritei de volta, berrei, vi a Eleonora, saí correndo para o abraço, beijo, abraço. E ganhei flores, cravos vermelhos, o único.
Meio abobado ainda, voltei para pegar sopa quente, um minestrone dos bons, para a Eleonora e para mim. E ataquei de novo a barraca de comida.
Saí do cercado para ficar com a Eleonora, fomos para um canto, comer descansadamente, tirar as fotos oficiais para nós, eu com a medalha, ela com a medalha, os dois abraçados.
E ela me empurrando, “vamos para lá, fazer fotos com as bandeiras”. Não entendo direito, olho para trás, para o funil de chegada, vejo os mastros. Lá estão as bandeiras dos Estados Unidos, da Alemanha, lá no fim a da África do Sul, mais um pouco para cá a da México, e ali, não muito perto nem muito longe, a bandeira do Brasil.
Ela tremulava para mim. Verde-amarela, a mais linda do mundo.

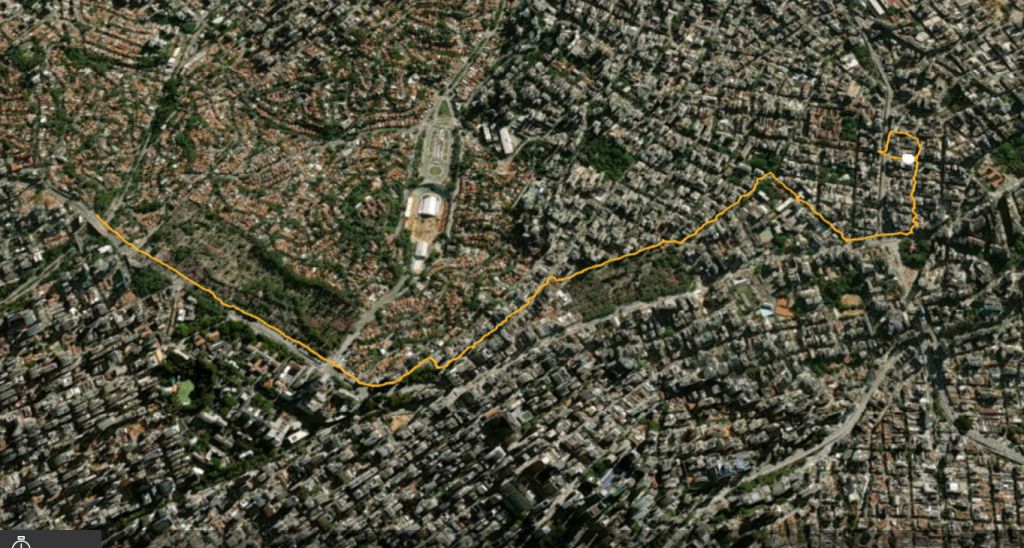



Deixar um comentário