Os trabalhadores estão fragmentados, uberizados, esmagados. As grandes empresas multinacionais fazem o que querem nos países, direitos são suprimidos, o trabalho fica cada vez mais precarizando. A visão do coletivo se esfumaça, e surge a desesperança, o medo, o ódio. O terreno está aberto para a extrema direita, e a democracia fica sob ameaça.
Nesse contexto, as mulheres e suas lutas de libertação são um alvo preferencial: “No projeto da direita, que junta Bolsonaro com Orban e os outros, a mudança da condição da mulher é um dos objetivos fundamentais”, diz Susanna Camusso, ex-secretária-geral da CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), a maior central sindical da Itália e uma das maiores da Europa, com a confederação alemã DGB e a britânica TUC.
Na conversa com que tivemos com ela, em Roma, em janeiro passado, questionamos como é possível reagir a esse quadro de retrocessos históricos que se esparrama pelo mundo.
Líder sindical e do movimento feminista, ela comandou greves, reunindo milhares nas avenidas de Milão. Era no tempo que as fábricas eram enormes e concentravam trabalhadores sindicalizados, politizados e conscientes da necessidade da ação coletiva.
Atualmente, constata, o quadro é outro: “O movimento sindical lidava com o fato de que sua força de origem era o local onde estavam os trabalhadores, que tinham uma dimensão coletiva e se organizavam. Hoje, em vez disso, precisamos encontrar os trabalhadores individuais e fazê-los entender que são uma dimensão coletiva, e não pessoas únicas que precisam enfrentar tudo sozinhos”, diz a sindicalista, hoje responsável pela área de relações internacionais da CGIL.
Para Camusso, “a primeira coisa que um sindicato precisa fazer é continuar organizando os trabalhadores, não desistir”.
Na entrevista ao TUTAMÉIA, ela fala da história do movimento sindical, lembra da luta pela jornada de oito horas, uma bandeira que unificou trabalhadores pelo mundo todo, “porque todos queriam mudar a dimensão da sua vida”, afirma.
Agora, diz, é preciso buscar radicalidade nos objetivos e mostrar, como ocorreu na luta pela jornada de oito horas, que os todos trabalhadores têm que ter os mesmos direitos:
“A questão não é que, para ser protegido, você deve ser um empregado, mas que as proteções devem ser usufruídas pelas pessoas, independentemente do tipo de contrato que elas tenham.
Caso você tenha um trabalho precário, esteja organizado ou seja um funcionário tradicional, você deve ter o mesmo nível de acesso aos direitos e, portanto, de proteção. Isso fala com todos e muda radicalmente a situação de fragmentação que foi produzida”, defende.
Na sua visão, “um mundo deteriorado do trabalho tem efeitos de retrocesso não apenas para os trabalhadores, mas para a sociedade como um todo. Talvez você possa pensar em economizar hoje, mas isso significa que você enfrentará uma população cada vez mais pobre”.
Nesta entrevista, concedida na sede da central sindical, em Roma, em 22 de janeiro, Camusso fala do engajamento dos trabalhadores na luta pela paz e enfatiza que a necessidade de romper as fronteiras nacionais e buscar elos internacionais. Conta que a CGIL lançou a proposta da Carta dos Direitos Trabalhistas Universais, uma iniciativa com eco em outros países.
Diz que, apesar dos retrocessos, já é possível identificar mudanças. A greve na França, advoga, é um sinal de que “terminou a fase de medo da grande crise”, que explodiu em 2008. “Essa fase do medo marcou a década. Há agora um espaço para você poder começar a propor não apenas argumentos de defesa, mas também argumentos de mudança e progresso”.
Camusso fala dos avanços da extrema-direita direita em vários países. Cita Trump, Orban, Salvini e Bolsonaro. Vê ameaças à democracia desses personagens que chegaram ao poder pelo voto.
Com laços de décadas com os sindicalistas da CUT no Brasil, ela defende Lula –e o recebeu na sede da CGIL quando o ex-presidente foi a Roma se encontrar com o papa Francisco, em 13 de fevereiro.
Fala do golpe judicial que ocorreu no Brasil e declara: “É preciso sempre defender o fato de que a democracia não pode ser manipulada e distorcida, senão perderá sua natureza democrática”.
Aos 64 anos, Camusso relembra sua militância no movimento feminista nos anos 1970 e aponta que a irrefreável luta das mulheres hoje pode se tornar o centro da ofensiva da direita.
“Vejo uma direita que acredita explicitamente que mandar as mulheres de volta para casa é uma das condições para sua própria vitória. Mas também acho que o movimento das mulheres entendeu isso, e isso já está na consciência e na dimensão coletiva”.
E afirma: “É absolutamente possível mudar o mundo. Penso assim com relação às mulheres, mas também com relação ao trabalho. Os adversários se supõem invencíveis nas condições de força, na possibilidade de determinar tudo. Mas, afinal, sem o trabalho não conseguem fazer nada. Portanto, a mensagem é não ceder à ideia de que há um mundo possível sem o trabalho. O mundo existe porque existe o trabalho. Portanto existe a força dos trabalhadores”.

A SEGUIR, A ÍNTEGRA DA ENTREVISTA (Transcrição do italiano por TERESA ISENBURG, 15 de fevereiro de 2020. Tradução do italiano por BEATRIZ CARLESSO, LEDA BECK e LUCIANO LOPRETE, 23 de fevereiro de 2020.)
TUTAMÉIA – COMO É SER LÍDER SINDICAL NUM MUNDO EM QUE HÁ UMA CRESCENTE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO, COMO NO CASO DA UBER? COMO É POSSÍVEL UNIFICAR E ORGANIZAR OS TRABALHADORES NESSE TIPO DE AMBIENTE?
SUSANNA CAMUSSO – O primeiro problema para um sindicalista ou para uma liderança de trabalhadores, ou para um trabalhador ou uma trabalhadora é a lacuna, a desigualdade que surgiu entre o trabalho como sempre o conhecemos e a intervenção das grandes multinacionais e suas tentativas, em andamento, de ter as mesmas regras em todo o mundo.
É o caso da Uber, que oferece o mesmo sistema em qualquer lugar, e também da Amazon e de outros que buscam o máximo lucro. Portanto determinam em cada sistema uma deterioração das condições de trabalho.
E, com a força de serem grandes multinacionais, ignoram, driblam a legislação nacional de proteção aos trabalhadores. Pensamos em todo o tema dos “assaltantes”.
Além disso, a Uber mais do que outros, mas também os outros, atua com a ideia de explorar o trabalho de empregado declarando-o autônomo. Não assume a responsabilidade de ter relações de trabalho e determina uma individualização das relações de trabalho unitárias, o que não favorece o crescimento de uma consciência coletiva e de uma dimensão coletiva.
Penso que o grande problema do momento é esse. Com uma questão adicional. De um lado, existe um poder de multinacionais superior ao dos governos. Mas, de outro, há uma tendência a nacionalismos e, portanto, a ideia de que, então, é melhor se proteger dentro dos muros do próprio país do que tentar regular condições que são transversais. Poderíamos dizer que a dificuldade que temos hoje é a relação entre os nacionalismos e a transnacionalidade das empresas. É isso.
Como consequência, como são as grandes transnacionais que realmente determinam a lógica do mercado, elas afetam todo o trabalho, mesmo que as relações e proteções tradicionais sejam mantidas. Há um efeito de competição internamente ao mercado que é descarregado nos trabalhadores.
O movimento sindical lidava com o fato de que sua força de origem era o local onde estavam os trabalhadores, que tinham uma dimensão coletiva e se organizavam. Hoje, em vez disso, precisamos encontrar os trabalhadores individuais e fazê-los entender que são uma dimensão coletiva, e não pessoas únicas que precisam enfrentar tudo sozinhos. Obviamente, é um processo difícil, mas acho que é o que temos em andamento.
Aqui as coisas estão divididas. A Uber teve apoio de sistemas de regulamentação nacional decorrentes das escolhas feitas em nosso país. Em outros países, proibiram as licenças, o que abriu a discussão sobre o tema.
Para a Amazon, por exemplo, temos um histórico de organização coletiva transnacional progressiva na Europa. Começamos com a grande fábrica em Piacenza. Houve a deflagração da greve pelo reconhecimento efetivo do contrato nacional de trabalho. Agora existe um movimento na Espanha, Alemanha, França, Grã-Bretanha. Foi criada uma contemporaneidade de mobilização e discussão sobre a Amazon de vários países. E também uma coordenação de representantes dos trabalhadores desses países com a ideia de continuar a ampliá-la, porque, obviamente, a Amazon está presente também em outros países.
Assim, é como se o movimento no qual há a individualização do trabalho precisasse redescobrir a internacionalização do trabalho. Este é o momento em que estamos. É cansativo. Enfrentamos o enfraquecimento dos poderes transnacionais, com as dificuldades que temos nas organizações internacionais. Por outro lado, há o papel de outros órgãos, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial. Ter uma legislação internacional é o ponto de partida para essa dimensão internacional, que também permita a organização em situações de trabalho individuais.
TUTAMÉIA – A SUA TRAJETÓRIA SINDICAL COMEÇOU NUM MOMENTO DE ASCENSÃO DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES. HOUVE GRANDES CONQUISTAS TRABALHISTAS NA ITÁLIA E EM TODO O MUNDO. COMO A SRA. COMPARA AQUELE MOMENTO COM O QUE VIVEMOS HOJE? É POSSÍVEL O SINDICALISMO OBTER NOVAS VITÓRIAS OU ESTAMOS NUMA FASE DE RETROCESSO? COMO PROJETAR O FUTURO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES?
SUSANNA CAMUSSO – A história não é a mesma para todos os países. Para a Itália, os anos 1960/1970 são os anos de grandes realizações do trabalho por dois motivos: é o momento de reconstrução do país após a guerra e é um período de grande desenvolvimento econômico. Havia trabalho. Não havia tanto, mas compensava.
Foi uma época de grandes reformas, não só do trabalho, mas também com avanços na educação, com a introdução da escolaridade obrigatória, com a reforma do ensino médio. Houve profunda mudança no país e na profissionalização que se criava. Sobretudo, foi uma época dos direitos, do crescimento econômico e da igualdade. Aquela década dos anos 1970, e mesmo antes, são anos de consolidação.
Já tínhamos o sistema de contratos nacionais, que ainda era objeto de luta por melhorias. Houve a construção de um sistema nacional objetivo de cobertura dos trabalhadores e de conquista de proteções sociais: reforma previdenciária, escolarização, sistema de amortecedores [um conjunto de medidas que tem o objetivo de oferecer sustentação econômica aos trabalhadores que perderam seu posto de trabalho; são também instrumentos aos quais devem recorrer as empresas que se encontram em crise e devem reorganizar sua estrutura e redimensionar o custo do trabalho]. O estatuto dos trabalhadores, de 1970, é a aplicação da constituição democrática no país.
O sistema de produção italiano ainda era um sistema de grandes empresas. Então, havia uma capacidade de mobilização. Para dar um exemplo. Quando houve a greve geral em minha cidade, Milão, fomos para a avenida. Nessa avenida, chegaram 100 mil trabalhadores, que estavam em quatro grandes empresas. Portanto, não digo que era fácil, mas havia a chance de falar direta e rapidamente com dezenas de milhares de trabalhadores.
Os subsequentes processos de transformação, em particular na Itália, tornaram cada vez mais difícil [a mobilização], mesmo antes da chamada “nova economia”.
O sistema de produção italiano foi se transformando gradualmente em um sistema de artesãos e de empresas muito pequenas. Cada vez mais, assistimos a uma crise da grande empresa e uma multiplicação de locais de trabalho, dificultando a sindicalização. Pois é mais difícil chegar.
Mesmo assim, resistimos. Continuamos sendo um país com 80% de cobertura contratual; somos um país com alta cobertura de contratos nacionais em relação aos trabalhadores.
Os anos 1980 são os anos da crise industrial, da primeira grande época de reestruturações na qual a Itália está atrasada. É um sistema fraco para empreendimentos, que investe pouco, ao mesmo tempo em que a onda liberalizante começa.
Depois ocorre a privatização de todo o setor público de produção industrial, provocando um enfraquecimento ainda maior. Isso porque todas as empresas foram fragmentadas na transição para o setor privado ou transferidas para propriedades estrangeiras, não são mais de propriedade nacional.
Então existe uma contemporaneidade entre a fragmentação do sistema produtivo e o enfraquecimento do sistema produtivo, o que, obviamente, tem consequências no poder de contratação e na distribuição de renda no país. Há também o enfraquecimento da ideia de gestão pública da economia.
A partir dos anos 1990, inicia-se o processo de multinacionalização. Passa a vigorar a ideia de que a gestão da economia passe da política para o mercado. Depois vem a onda liberal, e não há dúvida de que houve um processo de regressão.
Os anos 1970 são anos de conquista, de progresso. A Constituição entra no local de trabalho. No local de trabalho há cidadania, há direitos. As fases subsequentes são todas fases em que o tema fundamental é o medo de perder direitos.
Há, portanto, uma chantagem com os trabalhadores dentro dos muros das empresas. Isso cresce até as formas atuais, com a individualização e a precarização.
Podemos dizer que, se a política na década de 1970 acompanhou processos positivos –o Estatuto dos Trabalhadores, por exemplo–, a partir da década de 1980 começa o seguinte discurso: “O mercado de trabalho deve ser reformado, é preciso uma nova lei para o mercado de trabalho, é preciso retirar vínculos”.
A ideia era de que o interlocutor quase exclusivo fosse sempre o sistema das empresas, com vantagens para o sistema das empresas, e não mais para o trabalho organizado. Essa é uma mudança que afeta a Itália, mas não apenas a Itália. Para a Itália, soma-se a isso a fragilidade do sistema produtivo.
Não é que a orientação empreendedora dos alemães fosse tão diferente. Mas a Alemanha continua a ter um sistema de grandes empresas, o que também permite exercitar as relações de poder, além das diferenças dos sistemas.
Ao mesmo tempo, a transferência excessiva de poder econômico para o sistema empresarial dispara as desigualdades. Porque o capitalismo financeiro carrega consigo a construção de desigualdades.
Há também uma nova temporada também nas linguagens. A mesma linguagem que a Comissão Europeia está adotando hoje. É um debate que coloca o problema de que não podemos continuar a fazer com que as condições pesem sobre o trabalho, os trabalhadores e seus salários.
Então as receitas nem sempre são as corretas, nem sempre se tem coragem. É como se, finalmente, chegasse a um ponto de conflito entre a teoria do mercado, que regula tudo, e a função reguladora dos parceiros sociais, das organizações de trabalhadores e da política.
Neste momento, na Europa, estamos exatamente diante disso. Por um lado, existe uma política de acordos comerciais bilaterais, todos baseados no mecanismo liberal. As empresas podem fazer o que querem, são superiores às leis nacionais. O mercado prevalece, os comércios devem ser abertos, não há vínculo algum.
A Comissão Europeia está discutindo salário mínimo e negociação coletiva. Então, por um lado, se percebe que é necessário intervir nas desigualdades determinadas pelos contratos de trabalho. Por outro lado, não se consegue perceber que aquela política de acordos comerciais que renunciou a uma regulamentação internacional e que dá primazia ao mercado, está na origem da desigualdade que se tenta corrigir com o salário mínimo.
Há a necessidade de compreender um elo internacional. Porque não se recria uma ideologia como a liberal, que era uma ideologia universal, se não houver um movimento dos trabalhadores, um movimento operário que seja capaz de ter uma dimensão igualmente internacional.
TUTAMÉIA – O QUE OS TRABALHADORES E OS SINDICATOS PODEM FAZER PARA LUTAR CONTRA ESSA REGRESSÃO EM DIREITOS E NA SOCIEDADE COMO UM TODO?
SUSANNA CAMUSSO – A primeira coisa que um sindicato precisa fazer é continuar organizando os trabalhadores, não desistir. A CGIL na Itália lançou a proposta da Carta dos Direitos Trabalhistas Universais, tentando mudar o ponto de vista.
Há muito tempo argumentamos que o trabalho deve ser organizado como trabalho de trabalhadores dependentes, vinculados. Diante das multinacionais, com suas formas de individualização e precarização, o desafio era transformar esse trabalhador.
Isso com grande dificuldade, não apenas pelo modelo organizacional das multinacionais, mas também porque, por exemplo, o setor público se retirava.
Havia os contratos, os subcontratos, a pressão continuou a crescer em uma série de situações. Mesmo em si mesma, a dimensão estabelecida do empregado não era proteção suficiente. Porque havia mudança de contrato, demitiam o trabalhador, se inventava uma cooperativa, a terceirização.
Formulamos um projeto de lei para o qual coletamos um milhão de assinaturas. Também o colocamos no parlamento para dizer que olhamos para o futuro, vendo mudar o modelo organizacional das empresas e as movimentações do mundo do trabalho.
A questão não é que, para ser protegido, você deve ser um empregado, mas que as proteções devem ser usufruídas pelas pessoas, independentemente do tipo de contrato que elas tenham.
Caso você tenha um trabalho precário, esteja organizado ou seja um funcionário tradicional, você deve ter o mesmo nível de acesso aos direitos e, portanto, de proteção. O reconhecimento da condição traz consigo direitos e liberdades que estão relacionados aos direitos sociais, proteção social, previdência social. Continuamos a pensar que essa é a resposta.
Enquanto elaborávamos a Carta dos Direitos, não sabíamos que na Espanha, na França e na Grã-Bretanha havia um trabalho análogo. Na Espanha, com as Comissões Obreras, ocorreu o desenvolvimento de um novo Estatuto dos Trabalhadores. Na Grã-Bretanha, houve uma relação entre a universidade e o sindicato. Na França, ocorreu apenas na universidade.
Com caminhos diferentes e pontos de partida diferentes em quatro países que têm histórias distintas e modos diferentes de organizações sindicais, todos tiveram uma repentina onda liberal, a transformação do mercado de trabalho, a presença de multinacionais. E a resposta passa a ser: vamos repensar, à luz desses processos, o que significa direitos e estatutos ou o direito trabalhista num sentido geral.
Como reconstruirmos uma base coletiva homogênea para todos, se o capital funciona exatamente na direção oposta? É uma discussão que temos também na sede do Parlamento Europeu, na Organização Internacional do Trabalho. Achamos que essa é uma das estratégias para tentar encaminhar para a política e para os governos internacionais a responsabilidade de não delegar exclusivamente essa questão ao comércio, ao livre mercado, às multinacionais, às empresas.
O ponto é que um mundo deteriorado do trabalho tem efeitos de retrocesso não apenas para os trabalhadores, mas para a sociedade como um todo. Talvez você possa pensar em economizar hoje, mas isso significa que você enfrentará uma população cada vez mais pobre.
Por mais que você possa ser um governo liberal, será necessário fazer uma intervenção social. E se você a fizer tarde, isso produzirá uma posterior desigualdade. Acreditamos que a resposta está aí.
Ou seja, não imaginar, não se arrepender da história que temos sobre as costas. Todos gostamos dos anos dourados. Mas você deve tentar imaginar como a resposta que você deu nos anos 1970 –que determinou o crescimento dos direitos hoje– se transforma em uma resposta igualmente forte que também serve a quem nunca conheceu esse sistema.
As duas últimas gerações não conhecem aquele sistema nem têm condições de apreciá-lo. Eles fazem uma pergunta: “Estou aqui hoje, como você me responde?”. Existe a ideia de que os pais têm proteção e os jovens pagam o preço. Você não pode dizer a eles que precisam ser como seus pais. É necessário dar uma resposta que atenda a eles, às suas condições.
Seria necessário que a OIT –que também neste ano fez uma importante convenção sobre a questão do assédio e da violência contra as mulheres no trabalho– propusesse que o combate ao trabalho precário ou ao trabalho informal não deveria ser desencorajado apenas afirmando que é inadequado.
Mas que deve ser desencorajado por uma norma internacional. Que comece a afirmar que os direitos e regras fundamentais do trabalho, da saúde à segurança e à remuneração, e o direito de organização –aquelas que são chamadas de regras fundamentais– devem estar nos tratados comerciais e devem ser aplicadas a todos os trabalhadores, independentemente de onde estejam ou onde trabalhem. Apenas a revolução de poder dizer que não existem os trabalhadores formais e informais em grande parte do mundo representaria uma mudança de época.
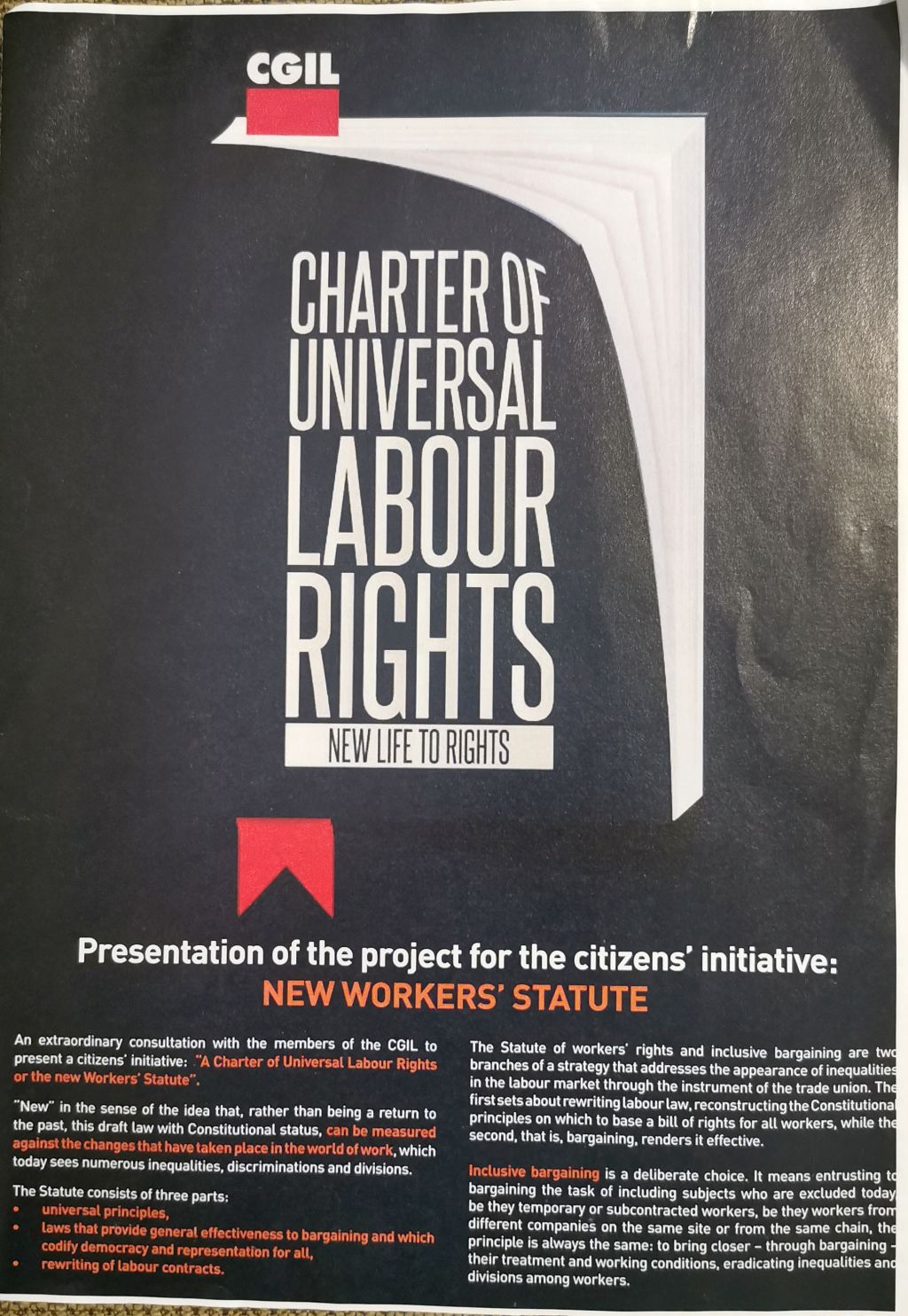
TUTAMÉIA – A SRA. FALA EM LUTAR POR MEIO DE REGULAÇÕES. ISSO PODE SER FEITO SEM LUTA DE MASSAS?
SUSANNA CAMUSSO – Nada é viável sem um movimento. Não foi possível antes; não é possível hoje. Por isso, lembrei da importância da experiência que estamos tendo com a Amazon, que decorre da mobilização de trabalhadores e da divulgação da mobilização de trabalhadores nos vários países. Porque não nos encontramos por acaso. Estamos vivendo a mesma experiência produzida pela empresa em diferentes locais.
Por outro lado, observamos algumas coisas que acontecem nos EUA, como o aumento do salário mínimo. Ocorreu na mobilização dos trabalhadores do McDonald’s que, em seguida, encontrou intérpretes políticos nos EUA, que se traduzia em salário mínimo. Para nós, era no contrato nacional, mas a mobilização era direcionada para um outro mundo.
A dificuldade a respeito da história é identificar objetivos que tratem de condições tão diferentes. Como no processo de liberalização, precariedade e esmagamento.
Antes você estava naquele lugar, na fábrica, e se via como um trabalhador que estava com outro trabalhador. Hoje, muitas vezes, o trabalhador não identifica quem está em trabalho precário como sendo o seu companheiro de estrada. Em alguns casos, constrói a ideia de que ele é um inimigo.
Vamos pensar como a questão dos migrantes é tratada. Para nós, há a construção, politicamente feita pela direita, de que foram os migrantes que tiraram o emprego dos italianos. Então, o trabalhador italiano achou que seu inimigo não era a liberalização, o fechamento das fábricas. Não, foi o migrante que, tendo chegado, roubou o emprego.
É realmente um problema de objetivos e radicalidade dos objetivos. Para se tornar coletivo, o grande movimento internacional se baseou no fato de oito horas de trabalho serem suficientes, algo que mudou radicalmente a maneira de interpretar a relação entre a empresa e o trabalhador, entre a agricultura e o trabalhador. Falava ao mesmo tempo com todos, porque todos queriam mudar a dimensão da sua vida.
É igualmente radical dizer que, qualquer que seja o relacionamento que você tenha, você tem direitos. Isso fala com todos e muda radicalmente a situação de fragmentação que foi produzida. Não basta coletar assinaturas para mudar uma lei, mesmo que a CGIL tenha feito uma longa campanha de mobilização no país para esse fim.
É preciso transformá-la em um objetivo visível para todos os trabalhadores e, sobre isso, construir a força de mobilização. Não é por acaso que, no mundo, a resposta dada em particular pelos governos de direita e populistas é novamente outra onda de reformas do mercado de trabalho, portanto de mais fragmentação. Das escolhas que Modi está fazendo na Índia, até as coisas que o governo brasileiro diz, passando pelo governo boliviano, polonês e húngaro, a reação tem sido desmantelar as ferramentas que o movimento sindical e os trabalhadores têm e que permitem identificar uma nova etapa de objetivos.
TUTAMÉIA – NESSES TEMPOS DE REGRESSÃO, ESTAMOS VENDO UMA GREVE NA FRANÇA. COMO EXPLICAR ESSE MOVIMENTO? SERÁ QUE A FRANÇA PODE INFLUENCIAR OU MOVIMENTAR OS TRABALHADORES NA EUROPA E NO MUNDO? O QUE SE PODE APRENDER COM ESSE MOVIMENTO? PARECE SER UM MOVIMENTO CLÁSSICO DE MOBILIZAÇÃO OU NÃO?
SUSANNA CAMUSSO – A história francesa conheceu mobilizações maciças, de longa data e mais recentes. A história da França e da Itália sobre a legislação trabalhista é diferente. Lá, os serviços públicos podem realizar mobilizações, diferentemente do que fazemos.
Há diferenças entre países europeus. O valor do trabalho público que impulsiona o movimento sindical na França é algo que não existe mais na cultura política italiana. Na Inglaterra, houve grandes privatizações. Na Itália, há pouca valorização do trabalho público.
Mas, para além das diferenças, o que a França está dizendo é que terminou a fase de medo da grande crise. Essa fase do medo marcou a década. Há agora um espaço para você começar a propor não apenas argumentos de defesa, mas também argumentos de mudança e progresso.
Porque o tempo que deixamos para trás foi um tempo de recuo, de defesa e também de medo. Essencialmente, você deve poder dizer que a página está sendo virada e que estamos em uma nova etapa. E, sem dúvida, a reação da França, a escolha da organização dos sindicatos é dizer: “Vocês não podem continuar conversando conosco sobre a crise; devemos ir para uma nova etapa”. Isso com diferentes níveis de conflito, porque os temas propostos são diferentes.
A mobilização dos sindicatos italianos nos últimos meses teve exatamente o mesmo sinal. Pela primeira vez em alguns anos, temos uma lei orçamentária que, em vez de dar dinheiro às empresas, dá aos trabalhadores uma significativa mudança de horizonte. Não se pode dizer que resolvemos todos os problemas com o governo. Veremos nos próximos meses.
Mas a mobilização que estava sendo feita contra o governo anterior, de direita, determinou uma mudança. A discussão e as perguntas que estão sendo feitas na Grã-Bretanha, acredito, significam uma outra etapa diferente. Ainda há uma parcela na defensiva quanto à iniciativa. Não há um objetivo visível para todos, em torno do qual possam se mobilizar. É o próximo passo.
Sobre a França, para os sindicatos e para os trabalhadores franceses é um grande resultado a retirada da medida [sobre as aposentadorias], mas não é o fim do jogo. Hoje não temos uma ideia transnacional, nem mesmo europeia, dos processos que precisariam ser feitos.
Estamos discutindo um sistema previdenciário, que para os jovens é uma desgraça, não é uma perspectiva. Mas precisamos conseguir corrigi-lo. Se não vierem respostas positivas nos próximos meses, a Itália se mobilizará de novo sobre o tema da previdência. Mesmo aqui, os sistemas são nacionais, são diferentes. A construção de uma ideia mais ampla, não fechada nos confins do país, seria o verdadeiro desafio que temos pela frente.
TUTAMÉIA – A CGIL, EM QUE PESE SER UMA ORGANIZAÇÃO SINDICAL, DEBATE OUTROS TEMAS, COMO A PAZ, A LUTA CONTRA A GUERRA. POR QUE A PAZ É IMPORTANTE PARA OS TRABALHADORES DO MUNDO?
SUSANNA CAMUSSO – Porque, sem a paz, o trabalho também acaba perdendo. A guerra enriquece os produtores de armas, disso não há dúvida. E nós somos também um país produtor de armas e nos esforçamos para converter essas produções.
Porém, se pensarmos nos trabalhadores, nos direitos, em suas condições, para que os trabalhadores tenham direitos você precisa ter uma situação de paz.
As situações de guerra são situações de emergência que reduzem os direitos dos trabalhadores. As memórias das duas guerras mundiais ainda estão vivas por aqui. Não há dúvida que os trabalhadores, não tanto na Primeira Guerra Mundial, mas principalmente na Segunda, se opuseram à guerra e foram para as montanhas combater os fascistas. Mas, do ponto de vista da lógica, não era um movimento de intervenção na guerra.
Logo, existe uma tradição do movimento internacional, e não só do nosso, de ser a favor da paz. Não apenas como um idealismo de que é melhor estar em paz do que em guerra, o que é quase banal, mas como uma relação direta, objetiva.
Não se pode imaginar ter benefícios, cidadania, qualidade, liberdade de trabalho, se o país estiver em guerra. As guerras são pagas cada vez mais por civis: famílias, mulheres e crianças pagam por elas.
Portanto, elas têm um efeito que não se pode considerar alheio. Não se pode imaginar que se trabalhe sem ser afetado pelo que acontece em volta. A guerra empobrece os trabalhadores e enriquece os poderosos: essa é uma norma antiga.
Nosso país mantém uma tradição de solidariedade nesse ponto de vista. Esta semana, estaremos mobilizados junto a muitas outras organizações numa conferência pela paz com o slogan “Vamos ligar a paz e desligar a guerra”.
Também porque se multiplicam os conflitos e as guerras feitas por outros à nossa volta, e sempre muito mais próximos de nós. Mas essa é a razão do movimento também em nosso país. Como o apoio, por exemplo, à recente mobilização pró-liberdade no Chile. Como fizemos em 1973 no golpe contra Allende. É a razão da mobilização sobre a Turquia, no nordeste da Síria. Essa atenção talvez se intensifique mais quando dizem respeito a situações próximas e visíveis. Mas ela existe porque o trabalho só tem a perder quando há uma guerra.
A palavra passa para os fabricantes de armas. Há contradições, claro. Temos essa empresa na Sardenha que produz armas, a parte interna das bombas usadas no Iêmen. E nos encontramos na contradição de pedir ao governo italiano que interrompa sua produção. Nossos trabalhadores portuários entraram em greve para não carregar os navios que deveriam levar as armas para o Iêmen e os trabalhadores daquela fábrica sarda evidentemente se perguntaram o que seria deles.
Esse é o nosso trabalho, no qual sempre temos contradições entre esses dois elementos. Pensamos que tranquilizar esses trabalhadores para reconstruir os processos de reconversão e conduzi-los a outro trabalho é sempre um movimento no sentido de promover a paz e de não ser conivente com os produtores de armas e com o uso de armas. É uma questão que também estamos discutindo nos últimos dias em relação à Turquia. Somos um país que vende muitas armas para a Turquia, que as usa para fazer a guerra na Síria. Pedimos ao governo para suspender isso.

Susanna Camusso com Lula na chegada do ex-presidente brasileiro à sede da CGIL, em fevereiro – Foto Divulgação/CGIL
TUTAMÉIA – A SRA. ESTÁ FALANDO DE SOLIDARIEDADE. ESTA CENTRAL SINDICAL TEM DEMONSTRADO O SEU APOIO À LUTA PELA DEMOCRACIA NO BRASIL E AO PRESIDENTE LULA. A SRA. CHEGOU A VISITAR LULA NA PRISÃO. PODE FALAR SOBRE AS RAZÕES DESSES MOVIMENTOS?
SUSANNA CAMUSSO – A relação entre os sindicatos brasileiros, especialmente a CUT, e a CGIL é uma tradição histórica. Existe uma relação de amizade desde longa data. A relação com o presidente Lula vem de quando ele era chefe da CUT. Pessoalmente, estive no Brasil na primeira campanha eleitoral de Lula para a Presidência, com o então secretário da CUT, Vicentinho. Como metalúrgica, fui à Fiat Brasil e depois ao ABC visitar todos os produtores e trabalhadores das montadoras estadunidenses.
Logo, há uma relação muito antiga. Podemos dizer que víamos Lula como nosso companheiro, não apenas como presidente do Brasil. Existe um vínculo muito forte, que foi mantido ao longo do tempo. E também travamos batalhas conjuntas. Há uma outra razão que sempre nos levou a prestar muita atenção aos processos que ocorrem na América Latina. É que o presidente Lula demonstrou que era possível fazer políticas de inclusão numa época em que o liberalismo propunha exatamente as políticas de desigualdade.
Podem dizer que ele já fez o suficiente ou que ele não fez o suficiente, sempre podem. Mas havia sempre uma escolha e uma abordagem que era aquela da qual precisa o movimento de trabalhadores em todo o mundo. Porque era uma política de inclusão, de combate às desigualdades, mas também da diversidade que deve haver ao promover a inclusão, em vez de ignorar essa diversidade e fortalecer apenas alguns.
Lembremos do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, uma voz diferente no contexto internacional, que ia na direção oposta aos que se curvavam às políticas do Fundo Monetário Internacional como se fosse a única solução.
Então, para nós, foi uma experiência instrutiva, mas também uma época para preservar. Uma mensagem que sempre transmitimos e que continuamos transmitindo é que não podemos ser indiferentes ao que acontece na América Latina. É porque faz falta uma voz inclusiva e também porque perde a democracia, e perdendo pedaços de democracia em uma parte do mundo, os efeitos serão sentidos principalmente nos países que têm raízes linguísticas e históricas comuns.
Há proximidades que vão muito além disso. Lembramos muito bem da época das ditaduras na América Latina, como uma questão que envolvia o mundo todo. Há muitas razões e muitos vínculos pelos quais era natural que nos sentíssemos parte e tentássemos apoiar a batalha da CUT e do PT no Brasil.
Porque isso faz parte da nossa história com todas as formas que se pode reconhecer. Construímos mobilizações em nosso país. Fizemos isso em vários níveis do sindicato, fomos ao Brasil, primeiro numa delegação da CGIL, depois fomos para os congressos da CUT.
Mas, além de essas iniciativas servirem para divulgar o movimento sindical, elas também servem para confirmar os laços entre nós, e há mesmo um laço muito forte nessa relação consolidada de solidariedade entre organizações sindicais. Isso é fundamental quando há dificuldades para construir esse relacionamento e também para saber que, como organização, você não está sozinho. Há outro mundo ao seu redor que está disposto a apoiá-lo.
Uma última coisa: pudemos fazer coisas importantes na Itália também porque encontramos e envolvemos não apenas intelectuais, professores, mas também uma parte da política. Porque a lógica de um golpe judicial como o que levou à prisão de Lula diz respeito não apenas à solidariedade dos trabalhadores, à inclusão de um projeto contra a pobreza, mas também fala da necessidade de defender os sistemas democráticos, porque aparentemente tudo aconteceu dentro das regras do sistema. Não é o golpe dos coronéis.
Por isso, diz respeito a todos os sistemas democráticos o fato de que se possa utilizar a democracia para distorcê-la, para dobrá-la, aparentemente dentro das regras do sistema. Então, denunciar que não era uma iniciativa normal dentro do sistema, mas sim um forçar que fragilizava a democracia não foi apenas um compromisso que assumimos sozinhos, mas encontramos e envolvemos políticos e organizações políticas que adotaram o lema “é preciso sempre defender o fato de que a democracia não pode ser manipulada e distorcida, senão perderá sua natureza democrática”.

Lula discursa na CGIL, onde esteve em fevereiro durante sua visita a Roma, que teve como destaque seu encontro com o papa Francisco – Foto Divulgação/CGIL
TUTAMÉIA – QUAL SUA VISÃO SOBRE O BRASIL AGORA, SOB O GOVERNO BOLSONARO?
SUSANNA CAMUSSO – Evidentemente, nossa visão não resulta apenas das informações que temos, mas também do nosso relacionamento com a CUT e com os companheiros do Brasil e as coisas que eles nos contam. Se eu tentar fazer uma leitura compreensível, mesmo fora da dinâmica do país que eu não conheço a fundo, há um recuo da qualidade da discussão, da qualidade dos objetivos.
Bolsonaro representa uma direita retrógrada, sem dúvida. O caso Lula e o de Marielle Franco são elementos que o demonstram. Por um lado, há uma preocupação democrática, de liberdade, de promoção da civilização e, portanto, há um violento desvio dos processos inclusivos, que não estavam concluídos, para que as desigualdades cresçam em um país como o Brasil, onde elas já são substanciais.
É interessante que, mesmo dentro de modelos e condições diferentes, a resposta das direitas seja a mesma em todos os lugares, assim como os tipos de argumentos e os métodos de intervenção para determinar maiores desigualdades e discriminar. Certamente os textos das leis não são os mesmos, mas a ideia, o pensamento é o mesmo. Em um contexto regulatório, talvez seja diferente, mas não é tão diferente do que Orban está fazendo na Hungria. São visíveis as mesmas dinâmicas.
Há uma preocupação com o papel e com a importância que o Brasil tem na América Latina como um todo. Felizmente, na Argentina foi diferente. A situação da Bolívia nos preocupa, e a do Chile. Não temos para o Brasil um olhar que é apenas sobre condição do Brasil e dos brasileiros. É o Brasil na América Latina, um ponto de fragilização dos processos democráticos, dos processos de inclusão que existiam.
Porque a experiência do governo Lula e, depois, do governo Dilma representavam pontos de força também para outros países do continente.
Pensando no Brasil e nos regimes de direita, constato que esses últimos gostam de dizer que seu sistema dará respostas aos trabalhadores. Mas, do ponto de vista das soluções e perspectivas econômicas, não é verdade que eles avancem de modo algum. Primeiramente, porque, para ser um país efetivamente protecionista, você precisa se chamar China ou Estados Unidos. Outros países, sozinhos, não têm dimensão para se impor ao resto do mundo, porque pensam fazer alianças a partir da que fazem com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, na lógica nacionalista, pensam em si, e não nos aliados. Logo, nem mesmo resultados econômicos existem.
Ou seja, há uma grande promessa, um ótimo discurso do tipo “nós é que faremos”, mas me parece que todos estamos em um estado de dificuldade. Se continuamos no berço do liberalismo, estamos destinados apenas a ciclos de crises e dificuldades. Não vejo nada que possa dar razão a Bolsonaro.
Vejo, porém, muitas razões, principalmente com Lula livre, para tentar reconstruir um horizonte. Porque devemos sempre nos perguntar como aconteceu que em muitos países os populistas e a direita venceram.
É uma pergunta que devemos nos fazer, porque obviamente não tivemos êxito. Pensando no debate em meu país e nos riscos que corremos, o fato de que, mesmo entre os trabalhadores, entre os grupos mais fracos, entre os pobres, muitos acreditem que a resposta está ali, significa que existe também um déficit, uma dificuldade, um mal-entendido, uma incapacidade de nossa parte para uma resposta progressista, para termos credibilidade diante da pressão.
Pois não posso explicar apenas dizendo que os outros são maus. É preciso também nos perguntarmos quando foi que perdemos a capacidade de determinar a dimensão coletiva de esperança e confiança na mudança e na inclusão, deixando prevalecer o medo, o desespero e a dependência de mensagens destrutivas.
TUTAMÉIA – BOLSONARO NO BRASIL, TRUMP NOS EUA, JOHNSON NO REINO UNIDO, SALVINI NA ITÁLIA. A DEMOCRACIA ESTÁ SOB ATAQUE NO MUNDO?
SUSANNA CAMUSSO – Acho que sim. Mesmo que tanto Bolsonaro como Trump e até Salvini, que no momento está na oposição, sejam todos populistas de direita que chegaram ao poder através do exercício democrático. Erdogan também, há outros. São todos poderes autoritários, de ataque à democracia. O exemplo mais histórico, mais antigo entre os europeus, é Orban.
As primeiras duas coisas que Orban fez foi atacar a liberdade da magistratura e a liberdade de informação. Ou seja, chega ao poder por meio de eleições democráticas, mas estabelece imediatamente condições para fragilizar tudo que poderia impedi-lo de continuar no poder —a semelhança é imediata com os regimes totalitários autoritários.
Trump faz isso todo dia, como na discussão que criou em torno ao Irã. Ou seja, ele força os limites dos poderes que lhe são atribuídos para determinar um ordenamento que não é o ordenamento democrático determinado pela Constituição do país, mas uma outra modalidade.
Assim, precisam sempre dizer que chegaram ao poder pela via democrática. Mas, uma vez lá, colocam imediatamente em discussão o equilíbrio dos poderes que define a democracia. O fato é que não há ninguém que possa ser o único supremo. Em parte, Bolsonaro fez isso antes mesmo de chegar ao poder, porque a construção do grupo judiciário contra Lula é exatamente a construção das premissas de uma modalidade que, em seguida, muda as regras do jogo. Aparentemente, estava no regime democrático, mas mudava as regras do jogo.
São, pois, dois níveis de ataque à democracia: um é o do pensamento da direita, e o outro são as modalidades em que é executado.
Uma terceira ordem de problemas é a capacidade da direita para construir um consenso e um voto que é popular, não é um voto exclusivamente das elites. Essa é uma questão para cada um de nós. Pois há um tema geral, que é o ataque à democracia, o crescimento dos regimes totalitários, aos quais é preciso responder.
Mas também é preciso pensar em como reforçar uma democracia e os sistemas democráticos, pois, ao fazê-lo, é preciso envolver as pessoas no processo. Porque a distância entre os modelos e a participação das pessoas pode abrir corredores preocupantes.
Já vimos a direita utilizar esses corredores. Na Itália, o primeiro terreno de alimentação e crescimento do consenso em torno a Salvini foi, de um lado, a construção dos medos, o medo da invasão. Mas, de outro, uma coisa que é dita regularmente: a solidão das pessoas em dificuldade, sejam trabalhadores precarizados, os pobres e assim por diante.
Isso significa que a modalidade de governo não envolveu essas pessoas, não falou com elas ou não as incluiu. Não acho que todos os italianos se tornarão de direita. Acho que houve, num dado momento, uma ruptura: não havendo mais respostas, não sendo mais envolvidas, as pessoas acabam se voltando para quem lhes promete coisas.
O caso é que não continuamos a nutrir a democracia com a participação popular e a inclusão —e isso, por si só, torna a democracia mais frágil.
TUTAMÉIA – AS ORGANIZAÇÕES POPULARES TRADICIONAIS, COMO SINDICATOS E PARTIDOS POLÍTICOS, FALHARAM NESSA LUTA? AGORA SURGEM MOVIMENTOS FORA DOS PARTIDOS E FORA DOS SINDICATOS QUE ESTÃO FAZENDO ESSA LUTA. COMO O MOVIMENTO DAS SARDINHAS. COMO A SRA. ANALISA ESSE FENÔMENO?
SUSANNA CAMUSSO – Aí tem uma história que, em parte, por sorte, é só italiana. E, em parte, não é só italiana. Houve um longo período em que a política se retirou do território, da organização de base, tornou-se muito mais institucional, nas salas do Parlamento. Tinha essa ideia de que era possível criar partidos virtuais, que o modelo pudesse ser o dos democratas estadunidenses. Todas elas modalidades que, de alguma forma, romperam um vínculo, acho que, sobretudo, com os trabalhadores.
Nós somos uma organização que sempre praticou a autonomia. Na minha história, na história da minha geração, tivemos uma vida sindical nos anos 1970 e 1980; os partidos existiam nos locais de trabalho. Existia uma seção do Partido Comunista, um núcleo do Partido Socialista, em alguns casos, mais raros, havia até a Democracia Cristã. Os trabalhadores procuravam o sindicato, mas se sentiam participantes de um lugar de vida política.
Aos poucos, essa coisa foi interrompida, não apenas porque não existe mais a grande fábrica, mas também porque ela já não existe no território. Alguns imaginaram prosseguir no terreno do social, alguns imaginaram prosseguir nas redes, alguns imaginaram que não seria possível prosseguir e pronto.
O resultado é que, quando as direitas começaram a se organizar, a crise determinou aqueles processos de solidão, além de promover políticas equivocadas. Porque, aqui na Itália, o governo promoveu políticas equivocadas. No trabalho, isso determinou as rupturas.
Mas tivemos o problema de que já não havia os lugares de trabalho, tudo se tornava movimento, externalidade, e a sensação de que já não havia aquele reconhecimento.
Aí vieram os mais arrogantes e os menos arrogantes, os que diziam “eu avisei” e os que diziam… Mas, na verdade, essa ruptura, essa ideia de que a sociedade é outra coisa, diferente da vida política, por sua vez alimentada pelos vários populismos, pelo vale-tudo, tudo isso é um nó.
Agora, acho que disso tudo deriva uma reação iniciada pelos jovens do Fridays for Future [movimento estudantil em defesa do clima, liderado por Greta Thunberg], que pedem que a política os escute. Na verdade, reivindicam uma participação.
Os jovens nas ruas para defender o meio ambiente dizem: “Vocês são responsáveis e devem assumir essa responsabilidade, mas nós estamos aqui para dizer o que vocês devem fazer e vamos fiscalizar”. De um lado, tem uma indicação de responsabilidade; mas, do outro, tem um protagonismo e, portanto, uma exigência de participação.
Vamos ver no que dá a coisa das sardinhas, porque nasceu numa conjuntura ligada às eleições regionais, mas rapidamente se espalhou por toda a Itália e até eles falam de boa política. Dizem: “É preciso uma política”.
Trata-se, portanto, de algo muito distante do vale-tudo e do populismo, mas tanto o Fridays for Future como as sardinhas configuram ondas que precisam que a política se acerte consigo mesma, se acerte com seus erros, com a externalização da relação com as pessoas.
Se as pessoas se sentem sós, você já errou e deve reconstruir o vínculo. Muitos de nossos interlocutores dizem: “Mas vocês também estão em crise”. E eu respondo sempre: não há dúvida de que a organização sindical está diante de novos problemas sobre como organizar os trabalhadores, os processos. Mas nós nunca rompemos o vínculo com o trabalho.
Se os trabalhadores estavam furiosos, nós íamos conversar com eles, fazíamos um contrato coletivo com eles, porque temos representantes no território, não estamos fechados na nossa sede romana.
Ao contrário, nós reduzimos nossa sede em Roma e aumentamos nossa presença no território do trabalho. O que não significa que está tudo bem conosco. Estamos às voltas com todas as coisas de que falamos no começo, com a necessidade de falar com os trabalhadores precarizados, de construir um horizonte.
Mas sempre ouvimos que estamos sós em relação à política, porque o que não tem a ver com a vida trabalhista não encontra mais respostas. Portanto, estar enraizado, estar presente, ser uma organização, essas são as coisas que salvaguardam o movimento sindical, enquanto a política da esquerda gradativamente abandonou as bases. Já Salvini está à frente de um partido muito enraizado, muito presente no território.

TUTAMÉIA – SOBRE A LUTA DAS MULHERES. A SRA. FOI E É UMA LIDERANÇA IMPORTANTE NO MOVIMENTO FEMINISTA ITALIANO. COMO A SRA. COMPARA ESSE MOVIMENTO HOJE COM O DOS ANOS 1970?
SUSANNA CAMUSSO – As mulheres têm sido um sujeito fundamental da existência nesta terrível década da crise e da ascensão das direitas, com uma unidade no mundo muito extraordinária, das praças da Argentina às da Polônia e às nossas. Embora sob diferentes níveis de ataque, há vozes análogas, e as mulheres têm uma força que o movimento trabalhista hoje perdeu, uma capacidade de ter objetivos comuns, em primeiro lugar o de lutar contra a violência dos homens sobre as mulheres.
Além disso, elas têm substancialmente um objetivo comum de liberdade, de libertação, de direito à autodeterminação. E isso é muito importante porque, no projeto da direita, que junta Bolsonaro com Orban e os outros, a mudança da condição da mulher é um dos objetivos fundamentais.
Não por acaso começou, por toda parte, um movimento para mexer na legislação de aborto. Não por acaso começa um debate sobre o trabalho como forma de emancipação e se volta a falar dos “anjos do lar”. Porque se vive toda a questão da natalidade e da queda da natalidade como um vínculo a ser proposto às mulheres.
E não como um tema que tem a ver com a qualidade de vida, perspectivas. Pois a redução dos serviços públicos, sozinha, já determina uma condição pior para as mulheres e em graus mais ou menos altos.
Isso ocorre por toda parte e me parece que deu energia ao movimento das mulheres. Aí tem as diferenças. Há quem se ocupe de coisas diferentes, mas há uma ideia comum. As relações são muitas.
Agora o movimento está preparando internacionalmente Pequim+25 [NR.: A Declaração e Plataforma de Pequim, de 1995, foi adotada por 189 governos, entre eles o Brasil, e estabelece medidas para o avanço das mulheres no mundo; neste ano de 2020 uma série de eventos promovidos pela ONU levantará o debate 25 anos depois].
Há a possibilidade de recuperar Pequim, que foi o grande fruto dos anos 1970, com uma grande temporada de tomada da palavra e até a mudança na legislação.
Desde os anos 1970, desde o nascimento e a difusão do feminismo na chamada sociedade civil, as mulheres continuaram a avançar, apesar da violência, apesar de que os números da violência continuem a ser os que todos sabem. Mas as mudanças continuaram a ocorrer, e as novas gerações já não aceitam os papéis que conhecemos e contestamos.
Justamente por isso, podem se tornar o centro da ofensiva da direita. Se tem uma diferença, não é tanto uma diferença da reivindicação e da capacidade de ser um movimento coletivo. Mas, sim, pelo fato de que, antes, avançavam também os processos democráticos. Era conflitante, mas dentro de um mundo que se media com as exigências de autonomia, de liberdade.
Hoje, ao contrário, vejo uma direita que acredita explicitamente que mandar as mulheres de volta para casa é uma das condições para sua própria vitória. Mas também acho que que o movimento das mulheres entendeu isso e que isso já está na consciência e na dimensão coletiva.
Naturalmente, com diferenças, nesse tema a discussão na Itália é diferente da discussão na Turquia, até pela capacidade da repressão local e de seus instrumentos. Assim, creio que é preciso continuar a alimentar essa capacidade de relacionamento e, desse ponto de vista, os países democráticos e a política democrática, que tem em mente a questão da democracia, deve prestar muita atenção no fato de que Pequim+25 poderia ser exatamente a ocasião de afirmar um ponto de inflexão no crescimento das direitas e do populismo.
TUTAMÉIA – QUAL SUA MENSAGEM FINAL?
SUSANNA CAMUSSO – Penso que atravessamos um período difícil, cada um vivendo seu tempo com grande dificuldade, com uma sensação muito forte de retrocesso, de perda. Mas a mensagem deve ser de vislumbrar o fato de que é possível fazer, não imaginar que devemos nos fechar em uma defesa, com a sensação de estar caindo sempre. Mas, sim, que é absolutamente possível mudar o mundo.
Penso assim com relação às mulheres, mas também com relação ao trabalho. Os adversários se supõem invencíveis nas condições de força, na possibilidade de determinar tudo. Mas, afinal, sem o trabalho não conseguem fazer nada. Portanto, a mensagem é não ceder à ideia de que há um mundo possível sem o trabalho. O mundo existe porque existe o trabalho. Portanto existe a força dos trabalhadores.

Susanna Camusso em manifestação da CGIL em Bruxelas, em abril de 2019 – Foto Divulgação/CGIL
A SEGUIR, A TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA EM ITALIANO
COM’È ESSERE LEADER SINDACALE IN UM MONDO IN CUI AUMENTA LA PRECARIZZAZIONE DEL LAVORO, COME NEL CASO DI UBER? COME È POSSIBILE UNIFICARE E ORGANIZZARE I LAVORATORI IN UN CONTESTO COME QUESTO?
Il primo problema per um sindacalista o per un organizzatore dei lavoratori, ma per un lavoratore, per una lavoratrice, in realtà è la divaricazione, la diseguaglianza che si è determinata tra il lavoro così come lo abbiamo sempre conosciuto e l’intervento delle grandi multinazionali e dei tentativi, che sono assolutamente in atto, di avere regole uguali in tutto il mondo. Uber che propone ovunque lo stesso sistema, ma Amazon e anche altre, finalizzandolo però al massimo profitto. Quindi determiando in ogni sistema un peggioramento delle condizioni di lavoro con la forza però di essere grandi multinazionali che ignorano, bypassano anche la legislazione nazionale di protezione ai lavoratori. In più, Uber più di altre, ma anche altre – pensiamo a tutto il tema dei raiders – anche con l’idea di sfruttare il lavoro dipendente dichiarando autonomo. Quindi non assumendosi nemmeno la responsabilità di avere rapporti di lavoro e determiando una individualizzazione dei singoli rapporti di lavoro che non favorisce la crescita di una coscienza collettiva e di una dimensione collettiva. Credo che il grande problema di questa stagione sia questo, con una ulteriore connotazione che da un lato c’è un potere delle multinazionali più alto di quello dei governi, ma dall’altro c’è una tendenza ai “nazionalismi” e quindi all’idea che poi è meglio una protezione all’interno delle mura del proprio paese che non provare a regolare condizioni che poi sono appunto trasversali. Potremmo dire che il tema, che la difficoltà che oggi abbiamo è il rapporto fra “nazionalismi” e transanzionalità delle imprese. Questo è. Con gli effetti che siccome quelle sono le grandi transnazionali determinano in realtà le logiche del mercato e hanno poi un effetto su tutto il lavoro anche se si mantengono i rapporti tradizionali e protezioni; però c’è un effetto di competizione all’interno del mercato che viene scaricata sui lavoratori. E quindi è come se il movimento sindacale dovesse fare i conti con il fatto che la sua forza d’origine erano i luoghi dove c’erano lavoratori e quindi la dimensione collettiva e quindi si organizzavano, mentre oggi invece bisogna trovare i singoli lavoratori e far loro conoscere che sono una dimensione collettiva e che non sono sigoli che devono sbrigarsela da soli. È ovviamente un processo difficile, credo però che è un processo che c’è, è in corso. Qui poi le cose si dividono, perché su Uber una mano l’hanno data i sisetmi di regolazione nazionale, pertendo dalle scelte fatte nel nostro paese e in altri paesi che hanno vietato le licenze, che quindi hanno aperto la discussione sul tema. Su Amazon per esempio noi abbiamo in Europa una storia di progressiva organizzazione collettiva transnazionale perché abbiamo iniziato noi con il grande impianto di Piacenza, la proclamazione dello sciopero per avere il riconoscimento effettivo del contratto nazionale di lavoro, ma adesso c’è un movimento che riguarda Spagna, Germania, Francia, Gran Bretagna, cioè si è creata anche non solo una contemporaneità di mobilitazione e di discussione di Amazon di vari paesi, ma anche un coordinamento di rappresentanti di lavoratori di questi paesi con l’idea di continuare ad allargarlo perché ovvimente Amazon è presente anche oltre questi paesi. Quindi è come se il movimento in cui c’è l’individualizzazione del lavoro avesse bisogno di riscoprire l’internazionale del lavoro. Questa è in realtà la stagione in cui siamo, poi ovviamente è faticoso, ci si scontra anche con indebolimento dei poteri transnazionali con le difficoltà che abbiamo nelle organizzazioni internazionali, e invece il ruolo che hanno svolto altri organismi, Fondo Monetario, Banca Mondiale. Però continuare ad avere una normativa internazionale è il punto di partenza per cui questa dimensione internazionale sostenga e permetta poi anche l’organizzazione nelle singole realtà lavorative.
LA SUA TRAIETTORIA SINDACALE È INIZATA IN UM MOMENTO DI ASCESA DEL MOVIMENTO DEI LAVORATORI. C’ERANO STATE GRANDI CONQUISTE SINDACALI IN ITALIA E NEL MONDO. COME PUÒ METTERE A CONFRONTO QUEL MOMENTO CON IL MOMENTO IN CUI OGGI VIVIAMO? È POSSIBILE CHE IL MOVIMENTO SINDACALE POSSA OTTENERE NUOVE VITTORIE O SIAMO IN UN FASE DI ARRETRAMENTO? COME SI PUÒ PROGETTARE IL FUTURO DELLE LOTTE DEI LAVORATORI?
La storia non è uguale per tutti i paesi, per l’Italia gli anni ‘60/’70 sono gli anni delle grandi conquiste del lavoro per due ragioni: un paese ricostruito dopo la guerra e una stagione del grande sviluppo economico, il lavoro c’era, ce n’era tanto, corrispondeva anche, perché fu una stagione di grandi riforme non solo del lavoro, ad una crescita dell’istruzione, l’introduzione della scolarità obbligatoria con la riforma della scuola media unica e del cambiamento profondissimo nel paese e nella professionalità che si creava, ma soprattutto la grande stagione dei dirittti, della crescita economcia e della parità. E quindi quel decennio che sono gli anni ’70, ma inzia evidentemente prima, sono anni di consolidamento, perché il sistema dei contratti nazionali lo avevamo ma facevamo fatica, lì diventa un oggettivo sistema nazionale di copertura dei lavoratori e poi di conquista delle protezioni sociali: riforma delle pensioni, scolarizzazione, sistema degli ammortizzatori, Statuto dei lavroatori che è del 1970, che è quindi l’applicazione della Costituzione democratica nel paese. E il sistema produttivo italiano era allora ancora un sistema di grandi imprese, quindi c’era una capacità di mobilitazione. Per fare un esempio, nella mia città che era Milano quando c’ero lo sciopero generale c’era un viale. Da quel viale arrivavano 100.000 lavoratori che stavano in quattro grandi imprese. Quindi c’era non dico una facilità, perché poi non è mai facile, ma una possibilità di parlare direttamente e rapidamente con decine di migliaia di lavoratori che invece i processi di trasformazione successiva in particolare in Italia hanno reso sempre più difficile perché prima ancora della cosiddetta new economy in realtà il sistema produttivo italiano si è progressivamente trasformato in un sistema di artigiani e di piccolissime imprese. Abbiamo avuto sempre più una crisi della grande impresa e una moltiplicazione di luoghi che era più difficile da sindacalizzare, dove era più difficile arrivare, anche se abbiamo resistito. Noi continuiamo ad essere un paese che ha 80% di copretura contrattuale, quindi siamo un paese ad alta copertura dei contratti nazionali rispetto ai lavratori. Gli anni ‘80 sono gli anni della crisi industriale, della prima grande stagione di ristrutturazioni su cui l’Italia è in ritardo: un sistema imprenditoriale debole che investe poco, contemporaneamente inizia la ventata liberismo liberalizzazioni quindi la privatizzazione di tutto il settore pubblico della produzione industriale che è un ulteriore indebolimento perché sono tutte imprese che sono state o spezzettate nel passaggio al privato o passate a propretà straniere, non sono più a proprietà nazionali, quindi c’è una contemporaneità tra frammentazione del sistema produttivo e indebolimento del sistema produttivo che ovviamente ha anche delle conseguenze sul potere contrattuale e sulla distribuzione del reddito nel paese, sull’indebolimento anche di un idea di un governo pubblico dell’economia. Dagli anni ’90 in poi inizia il processo di multinazionalizzazione, dell’idea che il governo dell’economia passa al mercato invece che alla politica, e poi l’ondata liberista e quindi non c‘è dubbio che c’è stato un processo di regressione anche perché se gli anni ’70 sono anni di conquista, di avanzamento, la Costituzione entra nei luoghi di lavoro, nei luoghi di lavoro c’è cittadinanza, ci sono i diritti, le fasi successive sono tutte fasi in cui il tema fondamentale è la paura di perdere i diritti, e quindi una ricattabilità dei lavoratori da paret delle imprese che cresce fino ad arrivare alle forme attuali che sono quelle dell’individualizzazione, della precarizzazione. Possiamo dire che se la politica negli anni ’70 accompagna i processi positivi – lo Statuto dei lavoratori ecc. – dagli anni ‘80 comincia: “bisogna riformare il mercato del lavoro, nuova legge sul mercato del lavoro, bisogna togliere i vincoli”, questa idea che l’interlocutore pressoché esclusivo fosse sempre il sistema delle imprpese, vantaggi per il sistema delle imprese e non più per il lavoro organizzato. Questo è un cambiamento che riguarda l’Italia ma non solo l’Italia. Per l’Italia con in più la fragilità del sistema produttivo. Non è che l’orientamento imprenditoriale dei tedeschi fosse così diverso, ma la Germania continua ad avere un sistema di grandi imprese che permettono anche di esercitare i rapporti di forza, al di là dei sistemi che sono diversi. Nello stesso tempo l’eccessivo trasferimento di potere economico al sistema delle imprese che fa esplodere le diseguaglianze – perché il capitalismo finanziario ha in sé come scelta la politica della costruzione delle diseguaglainze – credo che sti aprendo una stagione nuova anche nei linguaggi. Lo stesso linguaggio che sta facendo oggi la Commissione europea è un dibattito che si pone il probelma che non si può continuare a fare pesare su lavoro, sui lavoratori, sul loro salario le condizioni. Poi non sempre le ricette sono quelle giuste, non sempre si ha il coraggio di… ma è come se finalmente si arrivasse ad un punto di conflitto fra la teoria del mercato che regola tutto e la funzione regolatoria delle parti sociali, delle organizzazioni dei lavoratori e della politica. In queto momento in Europa siamo esattamente di fronte a questo. Da un lato c’è una politica di accordi commerciali bilaterali che sono tutti costruiti sul meccanismo liberista, le impreso possono fare quello che vogliono, sono supreme rispetto alle legislazioni nazionali, il mercato prevale, bisogna aprire gli scambi, non c’è nessun vincolo, ma dall’altro la Commissione europea sta discutendo di salario minimo e contrattazione collettiva. Quindi da un lato si rende conto che bisogna intervenire sulle diseguaglianze che si sono determinate sulle conizioni di lavoro, dall’altro non riesce a rendersi conto che quella politica di accordi commerciali che ha rinunciato a un regolamentazione internazionale, che dà primato al mercato è poi all’origine di quella diseguaglianza che provi a correggere con il salario minimo, con un bisogno di una compresnsione di un legame internazionale necessario perché non si rimonta una ideologia come quella liberista, che era un ideologia universale, se non hai un movimento dei lavoratori, un movimento operaio che non è in grado di avere una dimensione altrettanto internazionale.
COSA POSSONO FARE I LAVORATORI E I SINDACATI PER LOTTARE CONTRO QUESTO ARRETRAMENTO NEI DIRITTI E NELLA SOCIETÀ NEL SUO INSIEME?
La prima cosa che deva fare un sindacato è di continuare ad organizzare i lavoratori, non rinunciare. La CGIL in Italia ha lanciato la proposta della Carta dei diritti universali del lavoro provando a cambiare il punto di vista. Noi per lungo tempo abbiamo sostenuto che bisogna organizzare il lavoro come lavoro dipendente e che di fronte a multinazionali, forme di individualizzazione, di precarizzazione, il tema era di trasformare il lavoro dipendete, con una grande difficoltà non solo per il modello organizzativo delle multinazionali, ma anche perché ad esempio il pubblico si ritraeva, c’erano gli appalti, i subappalti, la frantumazione continuava a crescere, in una serie di situazioni. Anche di per sè la dimensione lavoro dipendente non era una tutela sufficiente perché poi il cambio di appalto ti licenziava, si inventava la cooperativa, la esternalizzazione. Abbiamo formulato una proposta di legge su cui abbiamo raccolto un milione di firme e l’abbiamo depositata anche in parlamento a dire se guardiamo il futuro, il modello organizzativo delle imprese che cambiano, la possibile traferibilità del lavoro. Il tema non è che per essere tutelato devi essere lavoratore dipendente, ma che le tutele devono essere in carico alle persone qualunque sia il tipo di contratto che hanno. Così che tu sia precario, che tu sia organizzato o che tu sia un tradizionale lavoratore dipendente hai lo stesso livello di accesso ai diritti e quindi di protezione perché poi il riconoscimento della condizione porta con sè diritti e libertà che sono connessi ai diritti di welfare, protezione sociale, previdenza. Noi continuiamo a pensrae che questa sia la risposta. Peraltro mentre noi elaboravamo la Carta dei diritti senza saperlo in Spagna, in Francia e Gran Bretagna avveniva una cosa analoga. In Spagna con le commissiones obreras c’è stata l’elaborazione di un nuvo Statuto dei lavoratori, in Gran Bretagna è avvenuta una relazione fra l’università e il sindacato, in Francia è avvenuto solo in sede universitaria. Con percorsi differenti e punti di partenza differenti in quattro paese che hanno storie diverse e modalità diverse di organizzazioni dei sindacati, che però hanno subito tutti l’ondata liberista, la trasformazione del mercato del lavoro, la presenza delle multinazionali, la risposta poi diventa:ripensiamo cosa vuole dire diritti e carta dei diritti o del diritto del lavoro in senso generale alla luce di questi processi. Come ricostruiamo una base omogenea colettiva per tutti anche se il capitale lavora esattamente nella direzione opposta? E’ una discussione che abbiamo anche in sede del parlamento europeo, nell’organizzazione internazionale del lavoro; pensiamo che questa sia una delle strategie anche di provare a fare riassumere alla politica e ai governi internazionali la resposabilità di non delegare esclusivamete al commercio, al libero mercato, alle multinazionali, alle imprese e di porsi il tema che una cattiva qualità del lavoro ha degli effetti di regressione non solo per i lavoratori, ma per l’insieme della società. Magari puoi pensare di risparmiare oggi ma vuole dire che fronteggerai una popolazione sempre più povera successivamente. Per quanto puoi essere un governo liberista, ma poi non scappi dal fatto che l’intervento sociale devi farlo. E se poi lo fai tardi, esso è produttore di ulteriori diseguaglianze. Crediamo che la risposta sia lì, cioè non immaginare, non rimpiangere la storia che abbiamo alle spalle, siamo tutti affezionati agli anni d’oro; ma devi provare ad imagginarti come quella risposta che hai dato negli anni ’70 che ha determinato la crescita dei diritti oggi si trasformi in una risposta altrettanto forte e che serva anche a chi quel sistema lì non lo ha mai conosciuto. Le due ultime generazioni quel sistema lì non lo hanno conosciuto, non sono neanche in grado di apprezzarlo. Pongono una domanda: “Io sono qui oggi, come mi rispondi”. Chiudi una divaricazione che c’è, l’idea che i padri abbiano delle protezioni e i giovani paghino il prezzo, non puoi dirgli devi diventare come tuo padre. Bisogna dare una risposta che risponda a loro, alla loro condizione. Servirebbe che l’OIL, che peraltro quest’anno ha fatto una importante convenzione sul tema delle molestie e delle violenze nei confronti delle donne sul lavoro, proponesse il fatto che affronatare il lavoro precario o il lavoro informale non va solo disencitivato affermandone la non appropriatezza ma andrebbe disincentivato attraverso una norma internazionale che cominci ad affermare che i diritti e le regole fondamentali del lavoro, da salute a sicurezza a retribuzione, a diritto ad organizzarsi – quelle che sono chiamate le regole fondamentali – devono essere nei trattati comemerciali e devono essere applicate a tutti i lavoratori indipendentemente da quale è il loro luogo o il loro rapporto di lavoro.Solo la rivoluzione di potere dire che non esistono i lavoratori formali e informali per tanta parte del mondo rappresneterebbe un cambiamento epocale.
LEI PARLA DI LOTTARE ATTRAVERSO ACCORDI. QUESTO SI PUÒ FARE SENZA LOTTA DI MASSA?
Nulla è fattibile senza un movimento, non sono state possibili allora, non lo è oggi. Per questo ricordavo l’importanza dell’esperienza che stiamo facendo con Amazon, nasce dalla mobilitazione dei lavoratori e dalla diffusione della mobilitazione dei lavoratori nei vari paesi, perché non è che ci siamo incontrati improvvisamente, ci siamo visti sull’onda del fatto che l’esperienza di un luogo si produceva. D’altra parte e guardiamo ad alcune cose che succedono negli USA come l’innalzamento del salario minimo; è avventuo sulla mobilitazione dei lavoratori di McDonald, poi ha trovato degli interpreti politici, anche quella mobilitazione transnazionale, negli USA si traduceva nel salario minimo, da noi nel contratto nazionale, però la mobilitazione si parlava da un mondo all’altro.
La difficoltà però rispetto alla storia precedente è individuare degli obiettivi che parlino a condizioni tanto differenti. Perché nel processo di liberalizzazione, precarizzazione e frantumazione, mentre prima stavi in quel luogo lì e ti vedevi come un lavoratore che stava con un altro lavoratore, adesso spesso il lavoratore non identifica il precario come un suo compagno di strada, anzi in qualche caso si costruisce l’idea che sia un nemico. Pensiamo a tutto il modo in cui viene trattato il tema dei migranti: da noi c’è stata la costruzione voluta, politicamente fatta dalla destra che i migranti erano quelli che portavano via il lavoro agli italiani. Quindi il lavoratore italiano pensava che il suo nemico non era la liberalizzazione, la chiusira degli impianti, no, era il migrante che essendo arrivato sottraeva il lavoro. Davvero è un problema di obiettivi e di radicalità degli obiettivi; per diventare collettivo il grande movimento internazionale si è costruito sul fatto che otto ore di lavoro bastavano, una cosa che cambiava radicalmente la modalità di interpretare il rapporto fra la impresa e il lavoratore, tra agricoltura e lavoratore, e che parlava contemporaneamente a tutti perché per tutti voleva dire cambiare la dimensione della loro vita. Dire che qualunque sia il rapporto che tu hai, tu hai dei diritti è una cosa altrettanto radicale perché parla a tutti e cambia radicalmente rispetto alla ripartizione che è avvenuta. Il tema è che non basta raccogliere firme per cambiare una legge, anche se la CGIL ha fatto una lunga campagna di mobilitazione nel paese a quel fine, ma trasformarlo in un obiettivo visibile per l’insieme dei lavoratori e quindi su questo costruire la forza di mobilitazione. Non è un caso che nel mondo la risposta che viene data in particolare dai governi delle destre e populisti è di nuovo un’altra ondata di riforme del mercato del lavoro, quindi di ulteriore frammentazione. Dalle scelte che sta facendo Modhi in India, le cose che dice il governo brasiliano passando per quello boliviano per arrivare alla Polonia e all’Ungheria di nuovo la reazione prova ad essere quella di smontare gli strumenti che il movimento sindacale e i lavoratori hanno e che possono permettere di individuare una nuova stagione di obiettivi.
IN QUESTI TEMPI DI ARRETRAMENTO, VEDIAMO LO SCIOPERO IN FRANCIA. COME SI SPIEGA QUESTO MOVIMENTO? LO SCIOPERO DELLA FRANCAI PUÒ INFLUENZARE IL MOVIMENTO DEI LAVORATORI IN EURPORA E NEL MONDO? COSA SI PUÒ IMPARARE DA ESSO? È UN MOVIMENTO CLASSICO DI MOBILITAZIONE O NO?
La storia francese conosce mobilitazioni massicce anche recenti, non solo lontanissime; la storia dei due paesi, per esempio per la legislazione, è diversa dalla nostra, da quella di altri paesi, che determina ad es. che sui servizi pubblici si possano fare mobilitazioni differenti da quelle che facciamo noi. Differenze fra i paesi europei, ad esempio per una cosa che nella cultura politica italiana non c’è più, cioè un valore del lavoro pubblico che fa da traino al movimento sindacale in Francia che invece le grandi privatizzazioni inglesi o tutta la discussione sul non valore del lavoro nel pubblico avvenuta in Italia ha cambiato. Ma al di là delle differenze quello che mi dice la Francia è che è finita la stagione della paura della grande crisi che c’è stata e che ha segnato il decennio che abbiamo alle spalle, è che c’è un terreno in cui si può riprendere a proporsi non solo degli argomenti di difesa ma anche degli argomenti di cambiamento e di avanzamento. Perché il tempo che abbiamo alle spalle è stato un tempo di arretramento e di difesa e di paura anche; e in fondo si dovrebbe potere dire che la pagina viene girata e che invece siamo in una stagione diversa. E indubbiamente la reazione della Francia, la scelta di organizzazione dei sindacati è dirgli: “non potete continuare a parlarci della crisi, dobbiamo passare a una stagione differente”. Con livelli di conflitto diversi, perché i temi proposti sono diversi, la mobilitazione dei sindacati italiani di questi mesi ha avuto esattamente lo stesso segno. Per la prima volta da un po’ di anni abbiamo una legge di bilancio che invece di dare soldi alle imprese li dà ai lavoratori che è un cambiamento di orizzonte significativo. Che non vuole dire che abbiamo risolto tutti i problemi con il governo, vedremo nei prossimi mesi, ma la mobilitazione che era connessa contro il governo della destra precedente ha determinato un cambiamento. La discussione e le domande che stanno facendo in Gran Bretgna, io credo che ci sia una stagione (diversa). Poi scontiamo ogni volta modelli differenti, c’è ancora una quota che è difensiva dell’iniziativa, non c’è un obiettivo visibile per tutti attorno al quale mobilitarsi, questo mi pare il passaggio successivo; anche per la mobilitazione della Francia in questo periodo dovremmo ragionare perché per i sindacati e per i lavoratori francesi è un grande risultato il ritiro del provvedimento, ma non è la fine della partita. Oggi non abbiamo una idea transnazionale, neanche europea, dei processi che bisognerebbe determinare. Anche noi stiamo discutendo un sistema previdenziale che per i giovani è una jattura, non è una prospettiva, quindi bisogna riuscire a correggerlo. Se non verranno risposte positive nei prossimi mesi l’Italia si mobiliterà di nuovo sul tema della previdenza. Anche qui i sistemi sono nazionali, sono differenti, la costruzione di una idea più larga, non chiusa nei confini del paese credo che sia la vera sfida che abbiamo davanti.
LA CGIL, IN QUANTO ORGANIZZAZIONE SINDACALE, DIBATTE ALTRI TEMI, COME LA PACE, LA LOTTA CONTRO LA GUERRA. PERCHÉ LA PACE È IMPORTANTE PER I LAVORATORI DEL MONDO?
Perché senza pace anche il lavoro perde. La guerra arricchisce i produttori di armi, su questo non c’è dubbio, e noi siamo anche un paese produttore di armi, facciamo grande fatica a convertire quelle produzioni. Però se noi pensiamo ai lavoratori, ai diritti, alle loro condizioni, perché i lavoratori abbiano diritti hai bisogno di condizioni di pace. Le condizioni di guerra sono condizioni emergenziali che riducono i diritti dei lavoratori e la memoria delle guerre mondiali noi ce l’abbiamo ancora. Non è un caso che il lavoro sia stato, non tanto nella prima guerra mondiale, ma soprattutto nella seconda, sia stato sul versante contrario all’intervento. Poi è andato in montagna a combattere i fascisti, ma dal punto di vista della logica non era un movimento interventista nella guerra. Quindi c’è una tradizione del movimento internazionale non solo nostro di essere per la pace non solo come idealità che in pace si sta meglio che in guerra che è quasi banale, ma perché c’è una relazione diretta, non puoi immaginarti di avere un miglioramento, una cittadinanza, una qualità, una libertà del lavoro se il tuo paese è in una guerra. Le guerre le pagano sempre di più i civili, le pagano le famiglie, le donne, i bambini quindi determinano un effetto di cui non ti puoi considerare estraneo, non è che puoi immaginarti che fai il tuo lavoro e che quello che c’è introno non ti colpisce. La guerra impoverisce i lavoratori e arricchisce i potenti, questa è un’ antica norma, e il nostro paese mantiene una tradizione di solidarietà da questo punto di vista. Questa settimana saremo mobilitati insieme a tante altre organizzazioni al tavolo per la pace con uno slogan “Accendiamo la pace e spegnamo la guerra” anche perché i focolai e le guerre per procura intorno a noi e anche molto vicine a noi stanno crescendo. Ma questa è la ragione del movimento anche nel nostro paese di sostegno ad esempio alla mobilitazione pro libertà in Cile nel periodo scorso, così come avvenne nel 1973 nel golpe contro Alliende, la ragione della mobilitazione sulla Turchia nel nordest della Siria, c’è una attenzione che magari si accende di piú quando sono (situazioni) vicine e visibili, ma però c’è una attenzione che il lavoro a solo da perdere se c’è una guerra. La parola passa ai produttori di armi. Delle contraddizioni ci sono, noi abbiamo questa azienda in Sardegna che produce le armi, l’interno delle bombe che vengono utilizzate in Iemen noi ci siamo trovati nella contraddizione di chiedere al governo italino di cessare la produzione, i nostri lavoratori portuali hanno scioperato per non caricare le navi che dovevano portare le armi in Yemen e i lavoratori di quello stabilimento ovviamente dicevano “e poi a noi cosa succederà?”. Questo è il nostro lavoro per cui abbiamo sempre delle contraddizioni tra questi due elementi, ma noi pensiamo che rassicurare quei lavoratori per ricostruire dei processi di riconverione e portarli verso un altro lavoro sia sempre un movimento per promuovere la pace e non essere conniventi con i produttori di armi e con l’uso delle armi. Un tema che stiamo discutendo anche in questi giorni in relazione alla Turchia, noi siamo un paese che vende molte armi alla Turchia che le sta ultilizzando per fare la guerra in Siria. Abbiamo chiesto al governo di sospendere.
LEI PARLA DI SOLIDARIETÀ. QUESTO SINDACATO HA ESPRESSO APPOGGIO ALLA LOTTA PER LA DEMOCRAZIA IN BRASILE E AL PRESIDENTE LULA. PUÒ DIRCI QUALCHE COSA AL RIGUARDO? LEI HA FATTO VISITA A LULA IN PRIGIONNE.
La relazione tra i sindacati brasiliani e in particolare la CUT e la CGIL è una tradizione storica. Nel tempo c’è un rapporto di amicizia di lunghissima data, qundi c’è un rapporto con il presidente Lula che deriva da quano Lula era a capo della CUT , è da allora che ci sono relazioni. Io personalmente ero in Brasile nella prima campagna elettora che si fece per Lula presidente con il segretario della CUT Vicentinho, come metalmeccanici ero andata alla Fiat Brasile e poi nell’ ABC con l’insieme dei produttori, dei lavoratori delle aziende automobilistiche anche americane. Quinid c’è una antichissima tradizione di relazioni. Poi potremo dire che abbiamo vissuto Lula come un nostro compgna non solo come presidente del Brasile. C’è un legame molto forte che nel tempo si è mantenuto. Poi abbiamo fatto battaglie comuni. C’è una seconda ragione che ci ha sempre portato a essere molto attenti ai processi che avvenivano in America Latina. È che il presidente Lula ha rappresentato la dimostrazione che era possibile fare politiche di inclusione nella stagione in cui invece il liberismo ci proponeva esattamente le politiche di diseguaglianza. Poi uno può dire ha fatto abbastanza, non ha fatto abbastanza, si può sempre… Però c’era sempre una scelta e un approccio che era quello di cui ha bisogno il movimento dei lavoratori di tutto il mondo perché è una politica di inclusione, di contrasto alle diseguaglianze, ma anche le diversità che ci sono nel dare risposte di inclusione, e non attraverso l’ignorare e il rafforzare solo qualcuno. Ci ricordiamo il Forum di Porto Alegre, una voce diversa nel contesto internazionale che invece sembrava tutto piegato alle politiche del Fondo Monetario come unica fonte di declinazione internazionale. Quindi per noi è stata una esperienza da cui imparare, ma anche una stagione da salvaguardare e un messaggio che abbiamo sempre dato e che continuiamo a dare è che non è che quel che succede in America Latina sia indifferente per quello che succede nel resto del mondo. Perché manca una voce che è una voce inclusiva, ma anche perché perde la democrazia, perdendo pezzi di democrazia in una parte del mondo gli effetti poi ci sono in particolare in paesi che hanno radici linguistiche e di storia comuni. Ci sono delle vicinanze che vanno ben oltre. La stagione delle dittature in America Latina ce la ricordiamo molto bene come un tema che riguardava l’insieme del mondo. Ci sono tante ragioni e tanti legami per cui per noi era naturale sentirci parte e provare a sostenere la battaglia della CUT e del PT in Brasile perché è una parte della nostra storia con tutte le forme che si potevano individuare. Abbiamo costruito mobilitazione nel nostro paese, lo abbiamo fatto a vari livelli del sindacato, siamo andati in Brasile, io sono andata in delegazione della CGIL, poi siamo andati ai congressi della CUT. Ma oltre a queste iniziative che servono perché servono a dare notizie pubbliche, servono a confermare i legami, c’è proprio un legame ancora più profondo nella consolidata relazione di solidarietà fra organizzazioni sindacali che è poi fondamentale quando ci sono delle difficoltà nel costruire questa relazione e anche nel sapere come organizzazione che non sei da solo, c’è un altro mondo intorno a te che è disposto a sostenerti. Ultima cosa: abbiamo potuto fare in Italia delle cose importanti anche perché abbiamo tovato e incrociato oltre che intelletuali, professori, anche una parte della politica perché la logica da golpe giudiziario che è quella che ha portato all’imprigionamento di Lula parla non solo della solidarietà dei lavoratori, dell’inclusione di un progetto contro la povertà, ma parla anche della necessità di difesa dei sistemi democratici perché ovviamente apparentemente tutto è avvenuto senza … non è il golpe dei colonnelli, apparentemente tutto avveniva dentro le regole del sistema. Quindi parla a tutti i sistemi democratici il fatto che si possa utilizzare, stortandole e in realtà piegandole, ma apparentemente si potesse stare dentro le regole del sistema. Quindi denunciare che non era una normale iniziativa dentro il sistema ma era una forzatura che indeboliva la democrazia è stato non solo un impegno che abbiamo assunto noi, ma abbiamo trovato e incrociato politici e organizzazioni politiche che coglievano lì il tema “bisogna difendere sempre il fatto che non si può piegare e stortare la democrazia perché se no ne viene meno esattmente la natura democratica”.
QUALE È LA SUA OPINIONE SUL BRASILE OGGI, SOTTO IL GOVERNO BOLSONARO?
Ovviamente la visione che abbiamo è non solo frutto delle informazioni che abbiamo, ma del rapporto con la CUT e con i compagni del Brasile e le cose che ci raccontano. Se provo a dare una lettura comprensibile anche al di fuori della dinamica del paese che ovvimante non conosco (a fondo), intanto c’è un arretramento della qualità della discussione, della qualità degli obiettivi. Bolsonaro rappresenta una destra, una destra retrogada, non c’è dubbio, d’altra parte vicenda Lula da un lato e Marielle Franco dall’altro, sono elementi, le punte che lo dimostrano. Da un lato c’è e ci viene segnalata una preoccupazione di ordine democratico, di libertà, di avanzamento della condizione di civiltà e quindi una violenta divaricazione rispetto a quelli che erano invece processi inclusivi, per cui le diseguaglianze crescono in un paese come il Brasile in cui le diseguaglianze erano consistenti, non si era concluso un processo di inclusione. È interessante che pur dentro a modelli e condizioni diverse la risposta delle destre è uguale dovunque, i tipi di argomenti e le modalità di intervento per determinare maggiori diseguaglianze, per discriminare; poi certo non è che sono uguali i testi delle leggi, ma l’idea, il pensiero in un contesto normativo magari differente però non è diverso da quello che sta facendo Orban in Ungheria. Si rivedono le stesse dinamiche. C’è una preoccupazione per il ruolo e per l’importanza che ha il Brasile nell’insieme dell’America Latina (per fortuna in Argentina è andata in modo diverso), la situazione della Bolivia ci preoccupa, qualla del Cile, non abbiamo sul Brasile uno sguardo che è solo la condizione del Brasile e dei brasiliani, è il Brasile dentro all’America Latina, punto di indebolimento dei processi democratici, dei processi di inclusione che invece c’erano; perché anche qui l’esperienza del governo di Lula e poi del governo di Dilma erano governi che rappresentavano punti di forza anche per altri paesi del continente. Vedo, pensando al Brasile, ma vedo nei regimi di destra, usano molto il dire il nostro sistema darà risposte ai lavoratori, ma poi dal punto di vista delle soluzioni economiche e delle prospettive non è vero che avanzano in nessun modo. Uno perché alla fine per potere essere paesi effettivamente protezionisti devi chiamarti Cina e Stati Uniti, i singoli paesi non hanno la dimensione per imporsi al resto del mondo, perché pensano di trovare delle alleanze a partire da quella con gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti nella logica nazionalistica pensano a sé non agli alleati. Quindi anche i risultati economici non ci sono, cioè c’è una grande promessa, un grande dire noi sì che faremo, ma poi mi sembra che siamo tutti in uno stato di difficoltà perché o usi politiche di scelte diverse ma se continui a stare nella culla del liberismo sei solo destinato a una ciclicità di crisi e difficoltà. Non vedo nulla che possa dare ragione a Bolosonaro.
Vedo invece tante ragioni, anche avendo Lula libero, a differenza di prima, per provare a ricostruire un orizzonte. Perché poi dobbiamo sempre domandarci come è avvenuto che in tanti paesi abbiano vinto i populisti e la destra. Questa è una domanda che dobbiamo farci perché evidentemente non siamo riusciti; pensando al dibattito che c’è nel mio paese e ai rischi che corriamo, il fatto che tanti, anche fra i lavoratori, tra le fasce più deboli, fra i poveri, pensino che lì c’è la risposta vuol dire che c’è anche un deficit, una difficoltà, una incompresione, una incapacità da parte nostra di una risposta progressista, di essere credibili di fronte alle pressioni. Perché non posso spiegarlo dicendo che gli altri sono cattivi. Bisogna anche domandarsi dove non siamo più stati in grado di determinare quella dimensione collettiva e di speranza e di fiducia nel cambiamento e nell’inclusione per cui prevale paura e disperazione e ci si affida a messaggi che poi sono messaggi distruttivi.
BOLSONARO IN BRASILE, TRUMP NEGLI USA, JOHNSON NEL REGNO UNITO, SALVINI IN ITALA. LA DEMOCRAZIA NEL MONDO È SOTTO ATTACCO?
Penso di sì. Anche se Bolsonaro come Trump come anche Salvini, che però adesso è all’opposizione, sono tutti populisti di destra autoritari che arrivano al potere attraverso l’esercizio democratico. Come anche Erdogan, ne abbiamo altri. Da un lato c’è – perché sono tutti poteri autoritari di attacco alla democrazia – l’esempio del più storico, del più anziano di quelli europei, Orban. Le prime due cose che Orban fa è attaccare la libertà della magistratura, attaccare la libertà dell’informazione. Cioè sono arrivato al potere attraverso delle elezioni democratiche, ma mi metto immediatamente dopo nelle condizioni di indebolire quei poteri che potrebbero impedirmi di continuare e quindi le somiglianze diventano immediate con i regimi totalitari autoritari. Trump le esercita quotidianamente, la discussione che sta facendo negli USA rispetto all’Iran e così via è una forzatura nei confronti dei poteri che gli sono attribuiti per determinare un ordinamento che non è quello democratico determinato dalla Costituzione del paese, ma un’altra modalità. Quindi bisogna sempre dire che arrivano in modalità democratiche, ma poi forzano, mettono immediatamente in dicussione l’equilibrio dei poteri che determinano la democrazia. Il fatto che non c’è nessuno che possa essere l’unico supremo. Bolsonaro in parte lo ha fatto prima , perché la costruzione del gruppo giudiziario contro Lula è esattamente costruire le premesse di una modalità che poi cambiava le regole del gioco. Apparentemente stava nel regime democratico, ma cambiava le regole del gioco. Quindi sono due livelli di attacco alla democrazia: uno quello dato dal pensiero della destra e l’altro le modalità con cui viene esercitato; il terzo ordine di problemi è il consenso che ha, la capacità di costruire un consenso e un voto che è un voto popolare, non è un voto esclusivamente delle élites e questo è un interrogativo per ognuno di noi. Quindi c’è un tema generale che è l’attacco alla democrazia a cui bisogna rispondre, cioè la crescita dei regimi totalitari e guerrafondai ai quali bisogna rispondere. C’è però anche un problema di pensare come si dà forza a una democrazia e ai sistemi democratici e nel rafforzare i sistemi democratici bisogna sapere che si devono coinvogere le persone perché la distanza fra i modelli e la partecipazione delle persone apre corridoi che sono preoccupanti, li abbiamo visti utilizzare. In Italia il primo terreno di alimentazione e di crescita del consenso verso Salvini è stato da un lato la costruzione delle paure, la paura delle invasioni, ma dall’altro un cosa che ci viene detta regolarmente: la solitudine delle persone in difficoltà, siano essi lavoratori, precari, poveri e così via. Questo vuol dire che la modalità con cui si è govenrato e fatto non ha coinvolto quelle persone, non gli ha parlato, o non le ha incluse e il non averle incluse determina di andare a cercare… Io non penso che gli italiani siano diventati tutti di destra, penso che ci sia stata ad un certo momento una rottura per cui non avendo più risposte, non essndo più coinvolti, provano a rivolgersi a chi gli promette delle cose. Allora il tema è che non abbiamo continuato a nutrire la democrazia di partecipazione popolare e di inclusione e quindi questo di per sé rende più fragile la democrazia.
LE ORGANIZZAZIONI POPOLARI TRADIZIONALI – I SINDACATI, I PARTITI POLITICI – HANNO FALLITO IN QUESTA LOTTA? ADESSO SI FORMANO MOVIMENTI A VOLTE DEI PARTITI E FUORI DAI SINDCATI CHE FANNO QUESTA LOTTA. COME IL MOVIMENTO DELLE SARDINE. COSA PENSA DI QUESTO FENOMENO?
Qui c’è una storia che in parte per fortuna è solo italiana, in parte non è solo italiana. C’è stata una lunga stagione in cui la politica si è ritratta dal territorio, dall’organizzare, è diventata molto più istituzionale, nelle aule del parlmaneto; c’era questa idea che si potessero fare i partiti virtuali, che il modello potesse essere quello dei democratici americani, tutte modalità che hanno in qualche modo interrotto un legame, penso dal versante dei lavoratori. Noi siamo un’organizzazione che ha sempre praticato la sua autonomia. Nella mia storia, di quelli che hanno la mia età, hanno avuto vita sindacale negli anni ’70 e negli anni ’80, nei luoghi di lavoro esistevano i partiti. Esisteva la sezione del Partito comunista, il nucleo del Partito socialista, in qualche caso esisteva anche la Democrazia cristiana, un po’ meno. I lavoratori si rivolgevano al sindacato, ma si sentivano parte di un luogo di vita politica. Progressivamente questa cosa si è interrotta, non solo perché non c’è più la grande fabbrica, ma anche non l’hai più avuta nel terriotrio. Qualcuno ha immaginato che la facevamo sui social, qualcuno ha immaginato che la facevamo sulla rete, qualcuno ha immaginato che non la facevamo proprio. Il risultato è che quanto le destre hanno cominciato ad organizzarsi, la crisi ha determinato quei processi di solitudine, oltre a fare politiche sbagliate. Perché da noi il governo fece politiche sbagliate, sul lavoro questo ha determinato delle rotture. Ma tu hai avuto il problema che non c’erano i luoghi, tutto diventava movimento, esternalità e la sensazione che non si traducesse perché non c’era più quel riconoscimento. Poi ci sono stati quelli più arroganti e quelli meno arroganti, quelli che dicevano “io l’avevo detto e quelli che ..” . Ma in realtà questa rottura, quest’idea che la società è altro rispetto alla vita politica alimentata poi dai vari populismi, qualunquismi è un nodo. Da qui io credo che derivi adesso una reazione iniziata dai ragazzi con Frideys for future, che rivendica la politica dell’ascoltare, in realtà rivendica una partecipazione. I ragazzi in piazza per l’ambiente dicono “voi siete responsabili e vi dovete assumere la responsabilità, ma noi ci siamo qui a dirvi che dovete fare e che controlleremo”. Da un lato c’è una indicazione di responsabilità, ma dall’altro c’è un protagonismo e quindi una richiesta di partecipazione. Le sardine poi vedremo, perché sono anche nate in una congiuntura connessa a delle elezioni regionali, però si sono subito diffuse in tutt’Italia, anche loro in realtà parlano di buona politica. Dicono: “c’è bisogno di una politica” . Quindi è un’ondata con tarri lontani da quella del qualunquismo e del populismo, però è una ondata che ha bisogno,sia quella dei Fraideys che quella delle sardine, che la politica faccia i conti con se stessa, faccia i conti con i suoi errori, con la esternalizzazione dal rapporto con le persone. Se le persone si sentono sole, già hai sbagliato e devi ricostruire un legame. Io spesso dico ai nostri interlocutori che dicono “ma tanto anche voi siete in crisi”: non c’è dubbio che l’organizzazione sindacale sia di fronte a nuovi problemi su come organizzare i lavoratori, i processi, ma noi non abbiamo mai interrotto il legame con il lavoro. Perché se (i lavoratori) erano arrabbiati comunque si andava a discutere con loro, comunque facciamo una contrattazione con loro, perché abbiamo i rappresentanti nel territorio, non ci siamo chiusi nel palazzo di Roma, anzi se mai abbiamo ridotto il nostro palzzo di Roma e aumentato la nostra presenza nel territorio di lavoro. Il che non vuole dire che per noi va tutto bene, ci sono tutte le cose di cui abbiamo parlato all’inizio, il bisogno di parlare con i lavoratori precari, di costruire un orizzonte. Però a noi non viene sempre detto siamo soli rispetto a voi, ci viene detto siamo soli rispetto alla politica, perché ciò che non riguarda la vita contrattuale non trova più risposta. Quindi essere radicati, essere presenti, essere organizzazione, è stata una cosa che salvaguarda, pur nelle differenze e nelle difficoltà, il movimento sindacale; invece la politica progressivamente ha abbandonato. La politica della sinistra, perché Salvini è a capo di un partito molto radicato, molto presente nel territorio.
SULLA LOTTA DELLE DONNE. LEI È STATA UMA LEADER IMPORTANTE NEL MOVIMENTO FEMINISTA ITALIANO. COME CONFRONTA IL MOVIMENTO DI OGGI CON QUELLO DEGLI ANNI ’70?
Le donne sono state in questo terribile decennio della crisi e del passaggio delle destre un soggetto fondamentale dell’esistenza con un’unità nel mondo abbastanza straordinaria, dalle piazze dell’Argentina a quelle della Polonia a quelle nostre. Pur sotto livelli di attacco diversi c’erano voci analoghe e le donne hanno una forza, quella che dovrebbe avere il movimento del lavoro e che oggi non ha, una capacità di avere obiettivi comuni, primo dei quali quello contro la violenza degli uomini sulle donne. Poi è sostanzialmente un obiettivo comune di libertà, di liberazione, di diritto all’autodeterminazione. E questo è molto importante perchè dentro al progetto che esiste delle destre e che tiene insieme Borsonaro con Orban ecc. il cambiamento della condizione delle donne è uno degli obiettivi fondamentali. Non a caso ovunque è cominciato un movimento con l’idea di agire sulle leggi di interruzione di gravidanza e sull’aborto, non a caso viene messa in discussione la libertá di …, viene messa in discussione il fatto che il lavoro sia una forma di emancipazione e si ritorna a parlare di angeli del focolare, perché viene vissuta tutta la questione di natalità e denatalità come un vincolo da proporre alle donne e non come un tema che riguarda la qualità della vita, prospettive, perché l’arretraento dei servizi pubblici di per sé determina una condizione peggiore delle donne e a gradi più o meno alti dappertutto questo si sta verificando e mi pare abbia dato grande energia al movimento delle donne. Poi ci sono differenze, c’è chi si occupa di cose diverse, ma c’è una idea comune. Mi sembra che le relazioni sono molte. Adesso il movimento sta internazionalmente preparando Pechino + 25 quindi c’è anche la possibilità di riannodare ciò che fu il grande frutto degli anni ’70 che fu Pechino che fu l’avvio di una grande stagione di presa di parola e anche cambiamento della lgislazione. Dagli anni ´70, dalla nascita e dalla diffusione del femminismo nella cosiddetta società civile le donne hanno continuato ad avanzare nonostante la violenza, nonostante il numero delle violenze continui ad essere quello che tutti conoscono, ma il cambiamento ha continuato ad esserci e le nuove generazioni non accettano ruoli che invece noi abbiamo conosciuto e contrastato. E proprio per questo possono diventar il centro dell’offensiva delle destre. Se una differenza c’è, non è tanto una differenza della rivendicazione e della capacità di essere movimento collettivo quanto che allora avanzavano anche processi democartici, era conflittuale ma dentro un mondo che si misurava con le esigenze di autonomia, di libertà. Oggi vedo invece una destra che pensa esplicitamente che riportare le donne in casa è una della condizioni per la loro vittoria. Ma penso anche che il movimento delle donne lo abbia capito e che ci sia già nella coscineza e nella dimensione collettiva. Naturalmente con delle differenze, su questo tema la discussione in Italia è diversa che in Turchia, anche per capacità di repressione e di strumenti. E quindi credo che bisogna continuare ad alimentare questa capacità di relazione e da questo punto di vista i paesi democratici e la politica democratica, che ha in mente il tema della democrazia, deve fare molta attenzione sul fatto che Pechino + 25 potrebbe essere esattamente l’occasione per affermare un punto di interruzione contro questa crescita delle destre e del populismo.
QUALE È IL SUO MESSAGGIO AL BRASILE?
Io penso che siamo in una stagione difficile, poi ognuno vive le sue stagioni e le vede anche con grande difficioltà, in cui la senazione di arretramento, di perdita è molto forte. Però il messaggio invece deve traguardare il fatto che si può fare, di non immaginarsi che dobbiamo chiuderci in una difesa con la sensazione di precipitare sempre di più, ma che è assolutamnete possibile cambiare il mondo. Lo penso rispetto al tema delle donne, ma lo penso rispetto al tema del lavoro. Si ritengono invicibili nelle condizioni di forza, nella possibilità di determinare tutto, ma poi senza il lavoro non sono in grado di fare nulla. E quindi il messaggio è non cedere a questa idea che c’è un mondo possibile senza il lavoro. Il mondo c’è perché c’è il lavoro quindi c’è la forza dei lavoratori.





Deixar um comentário