“A gente vive uma queda livre, com aceleração. Estamos todos esperando uma espécie de fundo do poço, mas a coisa não termina. A gente precisa terminar esse pesadelo. A gente, aos poucos, vai cedendo. Isso me dói. O nível de democratização do país vai caindo. Não há negociação possível. A gente precisa lembrar disso e voltar para um lugar mais digno. Precisamos recuperar o desejo de jogo. Não é hora de obra prima. É hora da camada básica da arte, que é fazer arte, que é amar a linguagem. Esse amor à linguagem a gente precisa atualizar contra essa barbaridade”.
As palavras são de Nuno Ramos ao TUTAMÉIA. Artista plástico, escritor, poeta, ele lembra do que ocorreu nos anos 1970, quando o AI-5 provocava “o enclausuramento total do horizonte simbólico” produzido nos férteis anos 1960. “Esse fechamento de horizonte trouxe uma grande convivência entre as artes. Espero que a gente consiga fazer isso, jogar, jogar juntos, cada um sair do seu … da preocupação com a feira de São Paulo, com o mercado de arte ou o não sei o quê de não sei onde. Isso tudo ficou muito velho. Precisamos mostrar que nós amamos senão a vida, a linguagem que a gente usa e que a gente vai jogar”.
 Nuno Ramos tem colocado essa visão na prática. Com o grupo Teatro da Vertigem, ele conduziu uma performance intensa e original nas ruas de São Paulo na noite de 4 de agosto. Promoveu uma carreata em marcha ré do prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, até o Cemitério da Consolação. O percurso de 1,5 km foi percorrido em pouco mais de duas horas por 130 carros tendo como trilha sonora os ruídos de um respirador de UTI. Na Consolação, do alto da entrada do cemitério, o trompetista Richard Fermino (foto) executou o hino nacional ao contrário, da última à primeira nota. “Ficou uma melodia nada marcial, meio Lamartine Babo, tocada na fronteira, para os vivos e para os mortos”, afirma Nuno.
Nuno Ramos tem colocado essa visão na prática. Com o grupo Teatro da Vertigem, ele conduziu uma performance intensa e original nas ruas de São Paulo na noite de 4 de agosto. Promoveu uma carreata em marcha ré do prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, até o Cemitério da Consolação. O percurso de 1,5 km foi percorrido em pouco mais de duas horas por 130 carros tendo como trilha sonora os ruídos de um respirador de UTI. Na Consolação, do alto da entrada do cemitério, o trompetista Richard Fermino (foto) executou o hino nacional ao contrário, da última à primeira nota. “Ficou uma melodia nada marcial, meio Lamartine Babo, tocada na fronteira, para os vivos e para os mortos”, afirma Nuno.
No pórtico do Cemitério foi instalado um pano gigante com um desenho de Flávio de Carvalho, no qual ele retrata a agonia da mãe às vésperas da morte, sem ar, sem poder respirar _como o que ocorre com as vítimas da Covid 19. Flávio de Carvalho (1899-1973) foi a referência inicial para o trabalho de Nuno, que tinha como objetivo a confecção de uma obra para a Bienal de Berlim. Em setembro, a mostra fará homenagem ao multiartista brasileiro, um dos ícones do modernismo. A pandemia modificou os planos e resultou na carreata em marcha à ré.

Reprodução gigante de desenho de Flávio de Carvalho exposto no pórtico do cemitério da Consolação – foto Reprodução
Nuno conta que a discussão sobre a performance que irá a Berlim em vídeo se preocupou em discutir “como ocupar o espaço público sem replicar o discurso irresponsável e homicida do bolsonarismo”. Lembra que a carreata virou um elemento bolsonarista ali mesmo na Paulista. Mais seguro em tempo de pandemia, o carro foi usado pelos participantes, que adotaram toda as medidas de isolamento e cuidados sanitários. O próprio Nuno, que acompanhou o evento, estava vestido como “aqueles caras da apicultura”. O grupo todo, ressalta, agiu “sem repetir irresponsabilidade e violência do inimigo que manda as pessoas para a morte”.
Ao TUTAMÉIA, Nuno fala dos ataques de Bolsonaro à cultura em diversas dimensões, de censura, de autocensura e da estética do bolsonarismo (acompanhe a íntegra no vídeo acima e se inscreva no TUTAMÉIA TV).
“O bolsonarismo é uma forma de violência. É uma espécie de violência latente no país, que veio por brecha infernal da história, que contou com uma facada, contou com uma espécie de haraquiri que o sistema político fez consigo próprio. Contou com um apoio incompreensível das elites para um projeto que, evidentemente, não se sustenta de pé nem nos termos dela”, afirma. Para ele, o país há muito convive com a violência, que agora conta com um projeto no poder. Ele fala dos mais de 60 mil assassinatos por ano, as mortes no trânsito, a política hipócrita sobre drogas, as condições desumanas das prisões, o encarceramento em massa.
“A pergunta dura é: parece que a vida no Brasil não vale nada. Não é de hoje. A morte alheia parece não ser um freio ético. Não parece o inominável. Parece um dado. A violência no Brasil cresceu exponencialmente nos governos democráticos e benignos. Ninguém assumiu isso. Isso é um enclave bolsonarista na vida democrática. A gente não consegue esse solo comum de choque trágico, grego, da morte. A gente não consegue chegar nesse estupor. A naturalização da violência atravessou tudo. Muita coisa melhorou [desde a redemocratização]. Compara com o que a gente está vivendo. Talvez o país seja mais anômalo do que esse projeto constituinte de centro esquerda [de 1988], seja mais radicalmente divergente do razoável do que nós fomos capazes de reagir. A gente está vivendo a destruição de uma coisa que não se completou. O que me assusta no governo Bolsonaro é que, acho, não vai sobrar nada. Só vai sobrar o que eles não enxergarem, o que tiver uma escala muito pequena”.
E avalia: “É uma coisa de uma violência que a gente tinha que se unir de uma forma. Não entendo não haver um esforço gigantesco de afastamento disso. Isso é diferente de um governo de direita. O que estamos vivendo é a violência mesmo. É a violência instituída mesmo. Há um tesão de destruição. Há um escárnio com o valor do outro. É muito chocante”.
Nuno fala de resistência e das dificuldades de fazê-la em tempo de pandemia, do necessário isolamento e da queda institucional.
“Há diminuição de recurso muito grande, há perda de instituições benignas. É jogar um jogo mais subterrâneo; o que der, deu. E não ficar no boteco se queixando e dizendo que o país foi tomado pelos monstros. A gente precisa jogar.”

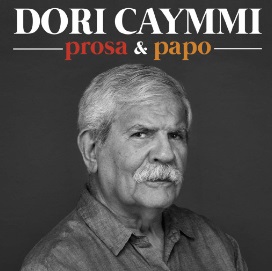



Deixar um comentário